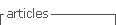Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO -
 Access statistics
Access statistics
Related links
-
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Comunicação e Sociedade
Print version ISSN 1645-2089On-line version ISSN 2183-3575
Comunicação e Sociedade vol.34 Braga Dec. 2018
https://doi.org/10.17231/comsoc.34(2018).2959
LEITURAS
Mbembe, A. (2017). Crítica da razão Negra. Lisboa: Antígona.
Mbembe, A. (2017). Crítica da razão Negra. Lisboa: Antígona.
Vítor de Sousa*
*Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho, Portugal.
Crítica da razão Negra, de Achile Mbembe, não é uma história das ideias, nem um exercício de sociologia histórica, embora se sirva da história “para propor um estilo de reflexão crítica acerca do mundo do nosso tempo” (p. 21). Logo na Introdução da obra, Achille Mbembe avisa que ela integra um processo que se encontra numa fase inicial e que se prende com a urgência em abrir a problemática da política da raça, do racismo e do colonialismo ao pensamento crítico, desclassificando o statu quo assente em predeterminações e estereótipos tendentes a dar “conforto” à lógica dominante. Por outras palavras, a necessidade em deixar para trás a ideia de verdade absoluta, a que, já em 1997, Stuart Hall chamara a atenção. E é disso que trata este livro, que tem um recorte teórico sublinhado, em que o autor discorre sobre o conceito de “negro”, sobre a evolução do pensamento europeu que lhe esteve na origem, sobre a colagem do selo àqueles que estão subalternizados (que apelida de “devir-negro do mundo”) e sobre os estratagemas destinados a ofuscar o próprio assunto. Neste livro, considera-se urgente a descolonização mental da Europa para combater o fenómeno do racismo global tecido pelo capitalismo selvagem, em que potencialmente todos poderão ser os novos “negros”.
A obra integra a trilogia iniciada com Sortir de la grande nuit (2010), onde o autor analisa a problemática da descolonização numa perspetiva decolonial, e terminada com Políticas de inimizade (2017), em que promove um diálogo transversal com pensadores de diferentes quadrantes que trataram a questão colonial e a sua relação com o imperialismo, o capitalismo e o racismo. É traduzida por Marta Lança, e pode ser encarada enquanto paródia da Crítica da razão pura, de Kant, em que pretende demonstrar a ligação estrutural entre os conceitos de modernidade e de colonialidade, e em que discorre sobre o que diz ser a negrificação do mundo e a generalização dessa condição, que extravasa as fronteiras biológicas e sociológicas do “outro” racializado, em que o “negro” seria um deserdado do mundo.
Nesse quadro, o autor, que é historiador, filósofo, professor de Ciência Política, e uma referência académica no estudo do pós-colonialismo e um dos intelectuais africanos mais reputados da atualidade, recorda o peso do eurocentrismo, que
sempre teve tendência para abordar a identidade não em termos de pertença mútua (co-presença) a um mesmo mundo, mas antes na relação do mesmo ao mesmo, de surgimento do ser e da sua manifestação no seu ser primeiro ou, ainda, no seu próprio espelho. (p.10)
Em contrapartida, urge compreender se o “negro” e a raça têm significado a mesma coisa para os imaginários das sociedades europeias, em consequência dessa lógica “de autoficção, de autocontemplação e, sobretudo, de enclausuramento” (p. 10).
Observando as asserções primárias em relação à raça que se desenvolveram na sua grande maioria a partir do século XVII, e cuja terminologia daí resultante é por si apelidada como de um “delírio” produzido pela modernidade, Mbembe observa que os conceitos de escravo e de negro se diluem, lembrando que o “negro” passa de homem-mercadoria (tráfico negreiro de escravos) a homem-metal (exploração mineira em África) e, daí, a homem-moeda (como produto de troca no capitalismo) (p. 300). Olha, também, para as manifestações elementares do conceito de “negro”, desde logo começando por aquele em que o vemos “quando nada se vê, quando nada compreendemos e, sobretudo, quando nada queremos compreender”; também aquele em que “ninguém (…) desejaria ser um negro ou, na prática, ser tratado como tal”; e, finalmente, “funcionando simultaneamente como categoria ordinária, material e fantasmagórica”, em que a raça tem estado, no decorrer dos séculos precedentes, na origem de inúmeras catástrofes, “e terá sido a causa de devastações inauditas e de incalculáveis crimes e carnificinas” (p. 11).
Achille Mbembe refere-se a um “devir-negro do mundo”, em que toda a Humanidade subalterna corre o risco de se tornar negra, e em que as desigualdades em que todo o processo assenta correm o risco de se disseminarem rapidamente. Explica que tudo isso é consequência da violência do capitalismo, nomeadamente o tráfico atlântico de escravos e a colonização dos séculos XIX e XX, cuja lógica está, de forma rápida, a disseminar-se e a chegar à Europa. No atual contexto de crise, alarga o conceito de “negro” a uma condição universal a que todos estarão sujeitos pelo facto de o neoliberalismo, na sequência dos novos modelos de exploração que o caracterizam, olhar para todos enquanto negros, com a consequente ideia de submissão associada. O que não diverge muito da lógica racista vivenciada nomeadamente em setores da sociedade portuguesa, que apelidam ainda hoje de “negro”/”preto” aquele que é sujeito, por exemplo, a um trabalho muito mais duro do que o habitual. Um resquício, afinal, da dinâmica social colonial que o próprio Mbembe pretende derrubar.
A isto não está dissociada a ideia de declínio da Europa e o seu recentramento no mundo, com a consequente perda da sua importância. Segundo Mbembe, o ocaso europeu anuncia-se “mesmo que o mundo euro-americano não tenha chegado a saber, ainda que quisesse saber (ou fingir saber), do negro”, o que leva a que em muitos países se assevere agora um “racismo sem raça”. No intuito de aprimorar a prática da discriminação, tornando a raça conceptualmente impensável, explica que se fez “com que a cultura e a religião tom[assem] o lugar da ‘biologia’”. O que faz com que afirme que o universalismo republicano é cego em relação à raça: “encerram-se os Não-Brancos nas suas supostas origens, e continuam a proliferar categorias totalmente racializadas, as quais, maioritariamente, alimentam, no quotidiano, a islamofobia”. É por isso que não tem dúvidas de que terá chegado o momento de finalmente fundar qualquer coisa de absolutamente novo, “enquanto a Europa se extravia, apanhada pela doença de não saber onde se encontra o mundo” (p. 20).
O impacto para o racismo e para a ideia de raça no contexto de subalternização da Europa pode ser explicado através da história. Mbembe concluiu que os riscos sistemáticos aos quais os escravos negros foram expostos durante o primeiro capitalismo estão na base das constantes dinâmicas de subalternização. Não será, assim, de estranhar que o fio condutor do autor em relação a esta problemática assente num quadro de recorte económico, pelo que não é possível separar a subjugação do “negro” da exploração capitalista. O racismo teria, assim, sido desenvolvido como legitimador do capitalismo, através da opressão e da exploração, sendo que, para sobreviver, necessitava de pressupostos raciais.
Sustenta que os conceitos de raça e de racismo são constantemente renovados, não importando o lado da barricada em que estejam os protagonistas, o que simplifica um processo ideológico complexo. Refere Mbembe que não passará de uma mera ficção a redução da pessoa humana a uma dinâmica biológica (como a cor da pele), e evidencia que a Europa e a América em particular “fizeram do negro e da raça duas versões de uma única e mesma figura, a da loucura codificada” (p. 11). A construção da identidade do “negro” passou, assim, para além da fixação do próprio nome, pela sua interiorização e, finalmente, pela subversão do conceito. O autor não se limita a desferir as suas críticas às correntes ideológicas legitimadoras do colonialismo, estendendo-as aos movimentos “africanistas”, em que
a proclamação da diferença é apenas um momento de um projecto mais vasto – de um mundo que virá, de um mundo antes de nós, no qual o destino é universal, um mundo livre do peso da raça e do ressentimento e do desejo de vingança que qualquer situação de racismo convoca. (p. 306)
Transversal aos seis capítulos do livro (“A questão da raça”, p. 25; “O poço da alucinação”, p. 75; “Diferença e autodeterminação”, p. 139; “O pequeno segredo”, p. 179; “Réquie para o escravo”, p. 223; e “Clínica do sujeito”, p. 255), são as referências do autor a Frantz Fanon, de que se mostra adepto, nomeadamente no último capítulo. Prova disso é o comentário que faz ao autor de Pele Negra Máscaras Brancas sobre o conceito político de violência racista da era colonial, citando-o, de resto, bastamente: “Fanon diz que a violência não é apenas consubstancial à opressão colonial. A duração no tempo de tal sistema, por si estabelecido com violência, é, explica ele, ‘função da manutenção da violência’” (p. 183), não obstante o discurso colonial ter um recorte subdesenvolvido uma vez que se articula à volta dos estereótipos de alteridade. Mbembe refere que, se algo devemos a Fanon, é exactamente a ideia segundo a qual existe, em qualquer ser humano, “algo de indomável, de verdadeiramente inapreensível, que a dominação (…) não consegue nem eliminar, nem conter, nem reprimir, pelo menos totalmente” (p. 285). É assim que sublinha não haver nenhuma relação consigo mesmo que não passe pela relação com o Outro:
O outro mais não é do que a diferença e semelhante reunidos. O que teremos de imaginar será uma política do ser humano que seja, fundamentalmente, uma política do semelhante, mas num contexto onde, é verdade, o que partilhamos em conjunto sejam as diferenças. E são elas que precisamos, paradoxalmente, de por em comum. (p. 297)
Por em comum as diferenças passa pela reparação e por “uma ampla concepção da justiça e da responsabilidade” (p. 297).
Trata-se de uma ideia reafirmada e desenvolvida no “Epílogo” da obra, intitulado “Existe apenas um mundo” (p. 299), e em que Mbembe aponta alguns caminhos para um futuro que pretende “livre do peso da raça e do ressentimento” (p. 306). Trata-se de um processo que só será possível concretizar através da justiça, restituição e reparação: “para construir este mundo que é o nosso, será necessário restituir, àqueles e àquelas que passaram por processos de abstracção e de coisificação na história, a parte de humanidade que lhes foi roubada”, sendo que o conceito de “reparação”, enquanto categoria económica, “remete para o processo de reunião de partes que foram amputadas, para a reparação de laços que foram quebrados”. Por isso é que defende que “restituição” e “reparação” (“porque a história deixou lesões e cicatrizes (…) que impedem de fazer comunidade”, p. 305) estão no centro da própria construção de uma consciência comum do mundo, o que significará no “cumprimento de uma justiça universal” (p. 304). Para tanto, o autor propõe a necessidade de a Europa ser mentalmente descolonizada, numa lógica em que “a construção do comum [seja] inseparável da reinvenção da comunidade” (p. 305). E, como lembra, trata-se de um processo que não é linear, uma vez que há que contar com inúmeras cicatrizes “[da]queles que passaram pela dominação colonial ou a quem, num dado momento da história, a sua humanidade foi roubada, a recuperação desta parte de humanidade passa muitas vezes pela proclamação da diferença” (p. 306).
Publicada inicialmente em 2013 (a primeira edição foi dada à estampa, em Portugal, no ano seguinte), a obra é de uma grande atualidade, não tendo sido de estranhar a sua republicação em 2017. Numa altura em que, de forma global, estão a ser postos em causa conceitos tidos até recentemente como verdadeiros, faz sentido convocar algumas polémicas mediatizadas que cruzaram a atualidade mediática recente e que tiveram o seu início no verão de 2017. É o caso dos acontecimentos ocorridos em Charlottesville, na Virgínia (EUA), com o derrube de estátuas em homenagem a símbolos dos Estados Confederados, evidenciando a clivagem entre os que defendem que elas homenageiam a Guerra Civil Americana e não devem ser retiradas, e os adeptos do seu derrube, por elas serem símbolos racistas que celebram a escravidão. Situações que, também em Portugal, vão tendo repercussões. Para tanto, bastará recordar a visita do Presidente da República a Gorée, no Senegal (2017), em que este que foi criticado por não ter pedido desculpa por causa das responsabilidades esclavagistas que Portugal teve no local, conhecido por ter sido um antigo entreposto nas rotas atlânticas do tráfico de escravos. Também a inauguração da estátua do Padre António Vieira (no largo Trindade Coelho, em Lisboa, em 2017), em que o escritor e prelado está representado na companhia de três crianças índias, o que denota, segundo os críticos, paternalismo colonial mas, em contrapartida, mereceu uma manifestação de apoio de um grupo de extrema-direita, em defesa de alegados valores nacionais. Ou a ideia de a Câmara de Lisboa fazer um Museu das Descobertas, nome que não é consensual e que motivou várias tomadas de posição públicas entre os que defendem o seu alegado recorte nacionalista e aqueles que sublinham a necessidade de ele dever mostrar o lado mais obscuro dos Descobrimentos (como por exemplo a escravatura, as pilhagens e a violência da conquista). Ou, já em 2018, com o CDS a recuperar uma proposta antiga para indemnizar os espoliados das ex-colónias portuguesas, pretendendo o maior consenso possível sobre um tema que constitui para aquele partido ainda uma ferida aberta resultante do processo de descolonização.
Trata-se da face visível da luta entre a história e a memória que, sendo coisas diferentes, tendem a ser misturadas neste tipo de ativismos. Paul Ricoeur estabelece uma ligação entre memória e história, considerando que o estudo histórico encena o trabalho da memória. O que não deixa de ser um processo contraditório, já que promove a seleção, transformando experiências anteriores para se ajustarem a novos usos, bem como pratica o esquecimento, que será a única forma de dar lugar ao presente (Ricoeur, 2000). Segundo Irene Flunser Pimentel, enquanto a memória se coloca no evento, sendo contemporânea daquele que tenta transmitir e se apoia na experiência vivida num passado que deixou marcas nos atores, a história, enquanto conhecimento, distancia-se e tenta extrair um sentido do passado:
a História estabelece uma distância com o seu objecto de referência, mas, na medida em que é mais distante, mais objectivante, mais impessoal na sua relação com o passado, ela pode ter um papel de equidade e de verdade, para temperar a exclusividade e a fidelidade das memórias particulares. (Pimentel, 2013, s. p.)
José Neves observa que o relato historiográfico está condenado a usar palavras do passado e de hoje, sendo que
o problema não reside na circunstância de um historiador discursar sobre sujeitos de um dado período fazendo uso de nomes próprios de outros períodos no que consubstancia um anacronismo; o problema surge quando o historiador não o circunstancia (…) nem discute tal intertextualização. (Neves, 2016, p. 14)
É, afinal, como refere Moisés de Lemos Martins (2014), a propósito da lusofonia, a evidência da existência de uma clivagem entre equívocos que urge desconstruir junto dos protagonistas de uma história da relação entre um “eu” colonial e um “outro” colonizador. É por isso que é urgente a descolonização mental, como preconiza Mbembe, no sentido de ultrapassar esses equívocos e dirimir ressentimentos, sentidos de superioridade e/ou de inferioridade, bem como de imaginários ideológicos. O que sublinha a diversidade relacional entre as partes, contrariando a homogeneização provocada pela globalização em que, quanto mais idênticas forem as pessoas, mais veloz será a circulação do capital, das mercadorias e da informação, mas onde menor será a crítica exercida pelos cidadãos e em que o produto final será monolítico.
Referências bibliográficas
Hall, S. (1997). The centrality of culture: notes on the cultural revolutions of out time. In K. Thomson (Ed.), Media and culture regulation (pp. 208-238). Reino Unido: The Open University. [ Links ]
Martins, M. L. (2014). Língua portuguesa, globalização e lusofonia. In N. Bastos (Ed.), Língua portuguesa e lusofonia (pp.15-33). São Paulo: EDUC - IP-PUC. [ Links ]
Neves, J. (2016). Os sujeitos da História. In J. Neves (Ed.), Quem faz a História? Ensaios sobre o Portugal contemporâneo (pp. 9-16). Lisboa: Tinta da China. [ Links ]
Pimentel, I. F. (2013, 20 de fevereiro). Será que a História nos pode fornecer algo de preventivo e “anular o destino”? [Post em blogue]. Retirado de http://irenepimentel.blogspot.com/2013/02/
Ricoeur, P. (2000). La memóire, l’histoire, l’oubli. Paris: Éditions du Seuil.
Nota biográfica
Vítor de Sousa é doutorado em Ciências da Comunicação (Comunicação Intercultural), pela Universidade do Minho, em 2015, com a tese Da ‘portugalidade’ à lusofonia, é mestre (especialização em Educação para os Média) e licenciado (especialização em Informação e Jornalismo) na mesma área. Entre as suas áreas de investigação constam as questões em torno da identidade, Estudos Culturais, Educação para os Média e teorias de Jornalismo. É investigador do CECS, onde integra o Grupo de Estudos Culturais, sócio da Sopcom, ECREA e da Associação dos Amigos da Biblioteca Municipal de Penafiel. Venceu o Prémio Científico Mário Quartim Graça 2016, que distinguiu a melhor tese concluída nos últimos três anos na área das Ciências Sociais e Humanas, em Portugal e na América Latina. Foi jornalista (1986-1997) e assessor de imprensa (1997-2005).
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6051-0980
Email: vitordesousa@gmail.com
Morada: CECS-Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, ICS-Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho, Campus de Gualtar, 4710-057 Braga
* Submetido: 15.05.2018
* Aceite: 29.06.2018