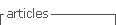Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO -
 Access statistics
Access statistics
Related links
-
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Revista Crítica de Ciências Sociais
On-line version ISSN 2182-7435
Revista Crítica de Ciências Sociais no.121 Coimbra May 2020
https://doi.org/10.4000/rccs.10436
DOSSIER
O movimento feminista e de mulheres na Argentina: perspectivas pós-colonial e socialista
The Feminist and Women’s Movement in Argentina: Post-Colonial and Socialist Perspectives
Le mouvement féministe et de femmes en Argentine: perspectives postcoloniale et socialiste
Danilla Aguiar*
 https://orcid.org/0000-0003-4996-0275
https://orcid.org/0000-0003-4996-0275
Gonzalo Rojas**
 https://orcid.org/0000-0003-2009-4772
https://orcid.org/0000-0003-2009-4772
* Departamento de Educação, Centro de Ensino Superior do Seridó da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | Grupo de Estudos e Pesquisas PRÁXIS: Estado e Luta de Classes na América Latina (UFCG/CNPq) Rua Joaquim Gregório, s/n – Penedo, Caicó – RN, 59300-000, Brasil jdanillaaguiar@hotmail.com
** Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais e Programa de Pós-graduação em Ciência Política do Centro de Humanidades da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | Grupo de Estudos e Pesquisas PRÁXIS: Estado e Luta de Classes na América Latina (UFCG/CNPq) Rua Aprígio Veloso, 882 – Universitário, Campina Grande – PB, 58428-830, Brasil gonzalorojas1969@hotmail.com
RESUMO
As teorias pós-coloniais questionam os instrumentos de poder e representação dos sujeitos subalternos, bem como o pensamento ocidental hegemônico, desvendando suas faces políticas e ideológicas que determinavam modos específicos de opressão aos grupos subalternos. Historicamente, a opressão pelo gênero delega às mulheres a condição de subproletariado, exemplo limite de subalternização a quem é negado espaços sociais e até o direito de decidir sobre o próprio corpo. Apresentamos neste artigo as contribuições do movimento argentino de mulheres em dois momentos da democracia no país: as Mães da Praça de Maio e o atual movimento de mulheres. Em nossa hipótese, as mulheres apresentam-se como protagonistas dos conflitos sociais e representam uma importante frente de luta que, a exemplo do caso argentino, abre a possibilidade de radicalização da democracia com aspirações continentais e mundiais.
Palavras-chave: Argentina, autonomia, discriminação da mulher, luta política, movimentos sociais, pós-colonialismo, subalternidade
ABSTRACT
Post-colonial theories question the instruments of power and representation of subaltern subjects, as well as hegemonic western thought, revealing its political and ideological aspects which determined specific types of oppression for the subaltern groups. Historically, gender oppression relegates women to the condition of “subproletariat”; a limiting example of their subalternization was the denial of social spaces and even the right to take decisions on one’s own body. We present the contributions of the Argentine women’s movement at two moments relevant to their country’s democracy: the Mothers of Plaza de Mayo and the current women’s movement. In our hypothesis, women present themselves as the main protagonists in the social conflicts and represent an important fighting front that, in the Argentinian case, opens up the possibility of radicalization of democracy with continental and world-wide aspirations.
Keywords: Argentina, autonomy, political struggle, postcolonialism, social movements, subalternity, woman discrimination
RÉSUMÉ
Les théories postcoloniales questionnent les instruments de pouvoir et de représentation des sujets subalternes, ainsi que la pensée hégémonique occidentale, en révélant les aspects politiques et idéologiques qui ont déterminé les types d’oppression spécifiques des groupes subalternes. Historiquement, l’oppression de genre a délégué aux femmes la condition de sous-prolétariat, un exemple limite de subalternisation à qui on refuse des espaces sociaux et même le droit de décider de leur propre corps. Nous présentons les contributions du mouvement des femmes argentines à deux moments liés à la démocratie dans le pays: les Mères de la Plaza de Mayo et le mouvement actuel des femmes. Dans notre hypothèse, les femmes se présentent comme les protagonistes des conflits sociaux et représentent un front important de lutte qui, à l’instar du cas argentin, ouvre la possibilité de radicaliser la démocratie avec des aspirations continentales et mondiales.
Mots-clés: Argentine, autonomie, discrimination de la femme, lutte politique, mouvements sociaux, post-colonialisme, subalternité
Introdução
A grande contribuição apresentada pelo argumento crítico pós-colonial contempla fundamentalmente uma reflexão sobre os instrumentos de poder e representação dos sujeitos subalternos. Fazendo referência às situações de opressão diversas, desvendando o antagonismo entre colonizado e colonizador, o pós-colonialismo – como movimento político e intelectual interdisciplinar – se propagou pelo questionamento do pensamento ocidental, revelando também suas faces políticas e ideológicas que determinavam aos grupos subalternos modos específicos de opressão, seja nos mercados, na representação política e legal, ou da possibilidade de se tornarem membros plenos da sociedade civil, mesmo em termos liberais burgueses clássicos. Além das marcas coloniais, a teoria pós-colonial destaca outros signos de subalternização que se combinam e fortalecem para aprofundar os níveis de exploração, como as marcas da identidade de gênero, de crenças e de culturas que oferecem novos contornos às identidades híbridas que caracterizam o mundo periférico, as quais não podem ser compreendidas sem sua relação com as classes e frações de classes.
Na década de 1970, fundamentalmente com o palestino Edward Said e sua obra Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente (2007 (1978)), refletiu-se com mais afinco sobre a divisão geográfica imaginária do mundo entre Ocidente e Oriente. Esta cisão foi recuperada por Said (ibidem) em uma dimensão crítica e política, na qual a representação do outro, desde uma perspectiva eurocêntrica, fazia parte de uma construção sistêmica de repressão colonial, onde a história dos povos subalternos era apagada pelas narrativas hegemônicas. Os estudos pós-coloniais, com certos ecletismos teóricos, incorporam algumas questões de classe e das respectivas formas de opressão das “elites” coloniais e hegemônicas, bem como das teorias culturalistas. Fazem ainda referência às diferentes formas de opressão e discriminação dos vários setores oprimidos, tratando-se de um movimento desafiante porque procurou desvendar as identidades a partir das relações de poder – o que vinculado a uma teoria das classes em termos marxistas se torna mais relevante. O argumento pós-colonial interpreta a modernidade a partir de uma nova perspectiva, enfatizando a necessidade de ser realizada uma nova leitura do processo de colonização, por exemplo, através da recuperação da memória e da história integral, incluindo a dos grupos subalternos – o que, desde nossa perspectiva, deve ser abordado em termos gramscianos. Trata-se de uma perspectiva teórica que ganha espaço no mundo acadêmico – primeiramente no ambiente acadêmico anglófono, não tardando em chegar também à América Latina – e que permite pensar a reconstrução dos espaços de emissão dos discursos relacionados com as práticas sociais em sociedades nas quais se instalou o saber/poder da colonialidade, destacando o resgate da história, do conhecimento e do sujeito subalterno na luta por autonomia.
Como a história, para ser integral, deve ser pensada em sua perspectiva dialética, há algumas décadas um conjunto heterogêneo de forças políticas apresentava propostas de mudanças na superestrutura política neoliberalista. Com um destacado protagonismo em conjunturas variadas, estas forças políticas – juntamente com movimentos sociais delas decorrentes – retomaram, na América Latina, lutas pela autonomia e por reconhecimento, unindo-se a uma demanda por descolonização e pela democratização da sociedade, muitas vezes encontrando seus limites no Estado capitalista. Essas demandas democráticas se cristalizaram no âmbito institucional em eleições de governos alinhados ao que chamamos de pós-neoliberalismo – termo utilizado como figura política e como hipótese para caracterizar a situação política e econômica dos governos que surgiram nos vários países da América Latina no início do século xxi. Fruto das consequências do desgaste com a década neoliberal de 1990, estes governos promoveram políticas públicas de distribuição de renda nos limites da sociedade capitalista, sem afetar em termos gerais os interesses da fração do capital financeiro e do rentismo, na medida em que recompuseram ou renovaram regimes políticos em crise e garantiram dessa forma a disciplina social.1
Contudo, destacamos de seguida alguns exemplos de luta política na América do Sul antes mesmo do surgimento desses governos pós-neoliberais: as pioneiras rebeliões zapatistas em 1994, no México, de caraterísticas profundamente anti-institucionais, negando a necessidade da luta política (em termos maquiavelianos) como luta pelo poder; a aparição dos piqueteiros, um movimento de trabalhadores desempregados na Argentina, à mesma época, dividido em vários grupos – alguns dos quais dependentes em grande medida de planos sociais estatais. Também podemos citar o movimento cocalero e indígena boliviano com sua experiência bem-sucedida, a resistência do povo mapuche – principalmente no Chile, mas também na Argentina –, assim como as inúmeras lutas desses povos originários que defenderam o que restou de seus territórios e resistiram ao genocídio e à espoliação dos recursos naturais no Equador, Peru, Paraguai e Brasil.
Mais recentemente, destaca-se ainda o movimento da juventude estudantil em prol da educação pública no Chile e no Brasil – no último caso protagonizando importantes ocupações que levantavam a bandeira contra o sucateamento do ensino público. Ainda, a classe trabalhadora que se expressou durante a era kirchnerista na Argentina, num período de recomposição econômica numa vanguarda ampliada classista denominada sindicalismo de base, responsável por protagonizar lutas históricas no país, tendo sua continuidade no Movimento de Agrupações Classistas, que organiza os trabalhadores da esquerda classista em geral sob o governo Mauricio Macri. E, não menos importante, o movimento de mulheres também vem se destacando nos últimos anos na América do Sul e no mundo, trazendo verdadeiras ondas de mobilizações, protestos e greves em centenas de países, demonstrando grande politização do movimento.
Historicamente, a opressão pelo gênero delega às mulheres a condição de subproletariado, o exemplo limite de uma subalternização a quem é negado espaços sociais e até o direito de decidir sobre o próprio corpo. Na obra Pode o subalterno falar?, a teórica indiana Gayatri Spivak descreve, ainda no prefácio, que o termo subalterno corresponde
às camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante. (Spivak, 2010: 12)
A autora, uma das grandes expoentes dos estudos pós-coloniais e subalternos, destaca outros signos de subalternização que se combinam e fortalecem, como as marcas da identidade de gênero, de crenças e de culturas que oferecem novos contornos aos sujeitos políticos que caracterizam o mundo periférico. Sobre o tema, se faz relevante destacar o contexto em que a autora escreve: o do marco da formação econômico-social indiana – porque a opressão das mulheres num sistema de castas, como no exemplo da Índia estudado por Spivak, não é semelhante ao da opressão num país semicolonial com traços políticos democrático-liberais, como na Argentina.
Objetivamos compreender as contribuições do movimento argentino de mulheres como um grande ator dinâmico em momentos diferentes – seja de resistência ou de ofensiva – bem como a sua luta pelos direitos humanos e sociais, e a sua crítica ao patriarcado e sua relação com o capitalismo, nomeadamente através da apresentação de elementos para a construção de outra forma de organização da sociedade. Na esteira dessa reflexão, apresentamos o movimento de mulheres em dois momentos relevantes em relação às lutas democráticas na Argentina e em duas dimensões diferentes: as contribuições das Mães da Praça de Maio na luta contra a ditadura militar argentina (1976-1983), momento de resistência e defensiva frente aos ataques do terrorismo de Estado e ao desaparecimento de seus filhos; e o atual movimento de mulheres que luta pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito, bem como pela sua descriminalização, movimento esse que conseguiu politizar sua pauta e levá-la ao debate público, apresentando mais força social e política a cada ano.
Objetivamos compreender as contribuições do movimento argentino de mulheres como um grande ator dinâmico em momentos diferentes – seja de resistência ou de ofensiva – bem como a sua luta pelos direitos humanos e sociais, e a sua crítica ao patriarcado e sua relação com o capitalismo, nomeadamente através da apresentação de elementos para a construção de outra forma de organização da sociedade. Na esteira dessa reflexão, apresentamos o movimento de mulheres em dois momentos relevantes em relação às lutas democráticas na Argentina e em duas dimensões diferentes: as contribuições das Mães da Praça de Maio na luta contra a ditadura militar argentina (1976-1983), momento de resistência e defensiva frente aos ataques do terrorismo de Estado e ao desaparecimento de seus filhos; e o atual movimento de mulheres que luta pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito, bem como pela sua descriminalização, movimento esse que conseguiu politizar sua pauta e levá-la ao debate público, apresentando mais força social e política a cada ano.
Em nossa hipótese, as mulheres apresentam-se como protagonistas dos conflitos sociais e representam uma importante frente de luta pela democratização da sociedade, destacando pautas democrático-radicais que permitem apresentar elementos de combate para superar o atual modelo de organização da sociedade. Neste trabalho de revisão bibliográfica e recuperação histórica, o exemplo do caso argentino é emblemático, mas salienta perspectivas continentais e mundiais, caracterizadas como a “nova primavera feminista” ou “primavera das mulheres” – crítica inerente à hegemonia machista, patriarcal e capitalista dominante.2
O argumento pós-colonial e a perspectiva gramsciana sobre a potência histórica dos grupos subalternos
A história das classes e grupos subalternos e a história das classes dominantes aparecem nas obras de Antonio Gramsci como resultado da caracterização da relação de ambas com o Estado e no âmbito da luta de classes, ressaltando as possibilidades dos grupos subalternos se organizarem como classe, em um partido sob a direção operária (Gramsci, 2002). Atentando para a formação social italiana, o marxista sardo indica como se deu a construção da subalternidade a partir da unificação do Estado italiano, produzido por necessidade do capitalismo e suas relações de poder político-econômico-ideológico, ideia desenvolvida na obra La questione meridionale (1926) e fundamentalmente nos Quaderni del cárcere (escritos entre 1929 e 1934). A categoria “subalterno”, mesmo que não seja apresentada de maneira imediata nos Quaderni, nos parece igualmente importante por tratar-se do momento em que Gramsci repensou o sentido das intervenções políticas e as frações e alianças de classes que poderiam reavivá-las. Reconheceu também a necessidade de se reconfigurar a luta por hegemonia no bloco histórico a partir de particularidades regionais, pensando a unidade em sua concretude, o que significa que mesmo que indiretamente a categoria de subalterno se faz fundamental no pensamento gramsciano. Esta categoria relacional está diretamente vinculada à grande construção teórica de Gramsci, a hegemonia, salvaguardando ainda uma relação estreita com a ideia de novo bloco histórico, uma nova articulação entre estrutura e superestrutura que permitiria a construção de uma nova hegemonia subalterna. No interior deste debate, o revolucionário italiano percebia primordialmente o conflito da separação entre intelectuais e povo – o último compreendido enquanto grupos subalternos, com características heterogêneas não contempladas pela ideologia dominante, seja pela caracterização racial, religiosa ou cultural. Diferentemente das classes dominantes que têm sua continuidade histórica no Estado, a história desses grupos subalternizados “seria necessariamente desagregada e episódica” e somente a organização política garantiria a possibilidade de luta política dos explorados (Gramsci, 2002: 135).
Ainda na década de 1970, enquanto na Itália o pensamento do intelectual sardo encontrava-se adormecido e mobilizado por visões eurocomunistas que eliminavam o caráter revolucionário de seu pensamento, um projeto de um grupo de historiadores indianos fez o caminho contrário e retomou os estudos sobre a subalternidade na perspectiva gramsciana. Composto em sua maioria por pensadores do sul-asiático, o Grupo de Estudos Subalternos ou Subaltern Studies – tendo como dirigente Ranajit Guha, um autor indiano de origem marxista – reunia estudiosos de influência gramisciana3 do continente asiático, tratando das particularidades das sociedades pós-coloniais (ainda restringidas à Índia, ao Paquistão entre outros locais sujeitos aos ditames hegemônicos de domínio das formas de controle da subjetividade, da cultura e, em especial, das ciências e da produção do conhecimento). Trata-se de um movimento desafiante porque procurou desvendar as identidades a partir das relações de poder e não somente com relação aos espaços, geograficamente falando. O grupo subalternista indiano acabou por reforçar o pós-colonialismo como movimento intelectual e político. Foi com a expansão dessas duas teorias lançadas por intelectuais do sul-asiático que a dicotomia entre colonizado e colonizador ganhou novos contornos, desconstruindo fronteiras e se articulando com outros problemas que o engajamento político lhe permitia evidenciar – como a questão imperialista, dentro do cenário vivenciado por Said, a saber, a Palestina, o Egito e o Líbano.
Estas são discussões que ganharam notoriedade inicialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, ressaltando-se mais uma vez a importância de Edward Said como grande precursor da base teórica para o que, posteriormente, seria a teoria pós-colonial, compreendendo o “orientalismo como um movimento científico cujo análogo no mundo da política seria a acumulação e a aquisição colonial do oriente pela Europa” (Said, 2007 (1978): 65). Ao falar de pós-colonialismo, fazemos referência ao período posterior aos processos de descolonização na segunda metade do século xx, mas enquanto contribuição teórica apenas ganha espaço a partir da década de 1980. Como afirma Stuart Hall,
O que o conceito pode nos ajudar a fazer é descrever ou caracterizar a mudança nas relações globais, que marca a transição (necessariamente irregular) da era dos Impérios para o momento da pós-independência ou da pós-descolonização. Pode ser útil também (embora aqui seu valor seja mais simbólico) na identificação do que são as novas relações e disposição do poder que emergem nessa nova conjuntura. (Hall, 2013: 117; itálico no original)
O autor indica ainda que houve mobilização política nessa conjuntura histórica de guerras de libertação na África e na Ásia, somadas aos trânsitos e ao alargamento das fronteiras ao passo que as grandes correntes teóricas ditas europeias, a exemplo do marxismo, começavam a serem revistas a partir da crise de suas visões hegemônicas (como o estalinismo e a social-democracia). Essas visões se encontravam já desgastadas e longe de uma perspectiva marxista revolucionária, ganhando espaço depois do Maio 68 francês. Nascia, pois, uma nova intelectualidade fruto desse deslocamento de fronteiras e do entendimento da globalização como um processo transnacionalizado. A preocupação em entender a forma pela qual as culturas nacionais inglesa, francesa e norte-americana mantiveram a hegemonia nos países periféricos – uma preocupação que estava também em Gramsci – começa a permear as obras de alguns desses intelectuais, imprimindo-lhes uma marca política.
Cabe destacar, todavia, que nesse momento a difusão das ideias gramscianas foi realizada de maneira livre e arbitrária. Assim se popularizou o nome de Gramsci fora da Itália, nos meios intelectuais e acadêmicos, primeiro no meio anglófono, refletindo-se depois na América Latina e, no que toca a este último caso, através dos partidos comunistas, de algumas revistas e outras publicações. Recuperar o sentido da categoria “subalterno” de forma rigorosa nos parece fundamental, pois se relaciona com a maneira que Gramsci formulou sua estratégia. Ao buscar razões para a derrota do Biennio Rosso (1919-1920) e os caminhos da revolução socialista na Itália e no mundo, pensando estratégias radicais de transformação sociopolítica frente à diversidade e especificidades nacionais de grupos – dos quais faziam parte camponeses, grupos religiosos, mulheres, raças (em termos políticos) e artesãos – Gramsci indicou a necessidade de uma aliança e uma frente única de luta, articulando os setores subalternos sob a hegemonia do proletariado. É tarefa dos que pretendem reativar as categorias gramscianas para pensar o tempo presente, recuperar a carga revolucionária da categoria “subalternidade” – em contraponto à categoria “hegemonia” –, descolando-a das leituras eurocomunistas ou culturalistas.
A subalternidade surge com destaque na nova onda de estudos gramscianos, muitas vezes distante de seu sentido original, revolucionário. Sobre o tema, Giorgio Baratta destaca que a relação subalternidade versus domínio e hegemonia não se tratava de uma “dicotomia de um status”, mas sim de um “campo dialético de uma tensão de luta, pelo menos potencial” (Baratta, 2011: 154). Os estudos subalternos distinguiam-se, assim, dos estudos culturais, como duas faces da expansão da teoria pós-colonial.
Essa potencialidade advinda da organização política dos grupos subalternos, em nossa hipótese, representa o encontro do argumento pós-colonial e da subalternidade com a luta feminista. Como destacou Luciana Ballestrin, ao citar o provocativo ensaio de Gayatri Spivak, “não por acaso, é a mulher colonizada o sujeito subalterno ‘por excelência’” (Ballestrin, 2017: 1037). Ainda sobre o tema, Ballestrin indicou a necessidade de se avançar na perspectiva dos feminismos subalternos como consequência desse encontro, evidenciando a geopolitização do debate feminista. Para a autora, “o corpo feminino pode ser pensado como o primeiro ‘território’ a ser conquistado e ocupado pelo colonizador”, caracteristicamente “homem, branco, cristão, europeu e heterossexual” (ibidem: 1038). Na esteira dessa reflexão, “a mulher do terceiro mundo” seria a personificação desse cruzamento entre a luta de classes e o marxismo, pós-colonialismo e feminismo (ibidem: 1044). Esta situação só pode ser superada pela ação política em termos de construção do partido revolucionário, por isso é tão relevante o papel das correntes revolucionárias anticapitalistas e socialistas no marco do movimento de mulheres.
Ballestrin propõe a formulação de feminismos subalternos para evidenciar a “tensão entre o limite da fragmentação de diferenças irreconciliáveis e a necessária cosmopolitização da agenda feminista” (Ballestrin, 2017: 1035), ressaltando, ainda, a necessidade que a pauta feminista tem de se associar com a pauta da grande maioria das mulheres proletárias, histórica e pluralmente subalternizadas – uma subalternidade que se dá inclusive e primordialmente no interior do feminismo –, seja pela raça, etnia, classe e/ou dominação patriarcal capitalista (ibidem). Este conceito está diretamente relacionado à descolonização do saber/poder/ser e ao “feminismo decolonial e do Sul”, um feminismo intimamente ligado à particularidade das mulheres latino-americanas (Ballestrin, 2017: 1036).
A luta das mulheres argentinas – em distintos momentos que serão em seguida destacados – simboliza a vivacidade desse ator coletivo que tem se tornado um articulador de forças populares diversas, ou nas palavras de Valentina Avelluto, mola propulsora de uma “reforma intelectual e moral da cultura, entendida em sentido integral”,4 em termos gramsciano, promovendo fissuras na hegemonia patriarcal e colonial (Avelluto, 2019: 32). E complementa:
Essa reforma intelectual e moral do “Príncipe Moderno” implica, para Gramsci, a geração de condições para o desenvolvimento de uma vontade coletiva nacional-popular em direção a uma forma superior de civilização, antagônica ao capitalismo. E que melhores condições que o desenvolvimento de uma linguagem rebelde e universal, transnacional e transgeracional? O que é, se não, a práxis feminista? (ibidem)
Avelluto aprofunda o debate indicando que a luta silenciada – e não silenciosa – das mulheres, e particularmente das mulheres argentinas vem sendo gestada há bastante tempo, e delega às lutas das sufragistas e às Mães da Praça de Maio essa agenda de luta interseccional – uma categoria produzida pelas feministas negras, onde se articulam de maneira complexa todas as relações de raça, classe, gênero, sexualidade, espiritualidade, etc. (Fregoso apud Grosfoguel, 2008: 123) –, um silêncio que vem sendo rompido desde os últimos anos com projeção internacional. É importante a relevância trazida pela autora em relação ao papel que as mulheres possuem na luta anticapitalista. Destacamos ainda, em relação à luta anticapitalista, a importância do conceito gramsciano de Príncipe moderno (partido político da classe operária em algumas de suas acepções), que será o que promove uma reforma intelectual e moral, estando ligado à classe trabalhadora como caudilho das classes subalternas – de todas as forças sociais que potencialmente possam lutar para superar o capitalismo (Gramsci, 2016), incluindo, decisivamente, as mulheres.
Sobre este tema, Andrea D’Atri reitera acertadamente que as mulheres sempre foram protagonistas de importantes processos de organização e resistência e, contemporaneamente, o movimento internacional de mulheres – assim como o argentino – ganha força enquanto um dos fenômenos políticos “filhos da crise capitalista internacional” (D’Atri, 2017b: 30).
Das Mães da Praça de Maio ao Ni Una Menos: as mulheres como frente de luta na Argentina
A última ditadura militar na Argentina abarcou o período de 1976 a 1983. Esta conseguiu resolver uma crise de hegemonia no interior do bloco de classes dominantes no país que durou mais de 20 anos – desde que o general Juan Domingo Perón foi derrubado pelo golpe de Estado autodenominado Revolução Libertadora em setembro de 1955 até ao golpe de 1976, autodenominado Processo de Reorganização Nacional (Rojas, 2006). A resolução dessa crise se resolveu de forma favorável à fração do capital financeiro do bloco de classes dominantes, os quais, mediante uma repressão política em grande escala, impuseram políticas neoliberais.
Este conjunto de programas econômicos, políticos, culturais e sociais neoliberais foi quase inquestionado até ao “Argentinazo”,5 em dezembro de 2001 e janeiro de 2002, que levou à demissão do presidente Fernando de la Rúa. A crise orgânica no país foi tão profunda que foram derrubados quatro presidentes em dez dias, assim como o modelo econômico baseado na convertibilidade da moeda argentina em relação ao dólar – modelo que havia feito com que o governo de de la Rúa e de Cavallo, ministro da Fazenda, expropriasse as poupanças das “classes médias”, despojando-as em favor do capital financeiro.
A crise do neoliberalismo aprofundou-se na América Latina, e depois de um processo de desvalorização da moeda argentina realizado por Eduardo Duhalde, triunfou o kirchnerismo – primeiramente na figura de Néstor Kirchner e depois na da sua esposa Cristina Kirchner –, que expressou as relações de força resultantes do “Argentinazo” e permitiu uma mudança na recomposição da superestrutura política.
Para poder impor o neoliberalismo na Argentina foi necessário derrotar as esquerdas em geral e a classe trabalhadora em particular. Frente a uma nova situação política no país e no mundo, observamos a emergência de um conjunto de novos atores sociais na sociedade civil, entre os quais podemos destacar o movimento de direitos humanos, que surge na segunda metade da década de 1970 para se tornar hegemônico no início da década de 1980. Sem essas derrotas das esquerdas teria sido impossível adaptar as condições do capitalismo argentino às novas condições do mercado mundial capitalista sob a hegemonia do capital financeiro, adaptação cristalizada na denominada Reforma do Estado. A ditadura militar triunfou do ponto de vista da recomposição da ordem social e insistimos que, no caso argentino, não é possível entender a hegemonia neoliberal sem compreender as derrotas – política, militar, social e ideológica – das esquerdas em geral, sejam marxistas ou não marxistas.
Nesse contexto, o movimento Mães da Praça de Maio – uma associação argentina de mães cujos filhos foram assassinados ou desapareceram durante a ditadura militar que governou o país entre 1976 e 1983 – apareceu como resposta social à repressão em termos de resistência, e pode ser definido como um movimento de direitos humanos. Foi central na luta contra a referida ditadura militar pela recuperação da memória, pela exigência de aparição com vida dos 30 mil desaparecidos políticos (existiram mais de 500 campos de concentração espalhados pela Argentina) e pela exigência da punição dos militares e civis responsáveis por crimes – bandeiras sintetizadas em dois slogans: “Ahora, ahora, resulta indispensable, Aparición con Vida” e “Juicio y Castigo a todos los culpables”.6 O movimento foi definidamente feminino e, mesmo com divisões, manteve a independência política frente aos governos de Néstor e de Cristina Kirchner (2003-2015).
As Mães da Praça de Maio se caracterizam desta forma porque sua primeira grande reunião aconteceu na Pirâmide de Maio,7 na própria Praça de Maio, frente à Casa do Governo Argentino, para realizar a exigência de aparição com vida de seus filhos. A primeira decisão política do movimento foi que seriam as mulheres a encabeçar a luta, pois consideraram que, num contexto de brutal repressão, estarem literalmente nesta frente permitiria evitar enfrentamentos. Como a ditadura militar proibia a reunião pública de mais de três pessoas paradas num mesmo lugar, a polícia cercava-as exigindo que circulassem, se movimentassem. Em consequência, tomaram uma segunda decisão em relação à ação política que foi a de girar, em movimento, contornando a Pirâmide de Maio, todas as quintas-feiras. Este ato ainda continua a ser realizado nos dias de hoje.
Em paralelo à criação das Mães da Praça de Maio, se constitui outra organização de direitos humanos, também de mulheres, denominada Avós da Praça de Maio, cujo objetivo é encontrar os filhos de detidos-desaparecidos políticos. Durante a ditadura militar na Argentina, os sequestros de crianças por parte de militares foram uma prática comum. O terrorismo de Estado praticado pelos militares, para além de promover o genocídio daqueles considerados subversivos, levou a entregar para adoção bebês (cujas mães eram mortas após darem à luz) a famílias de militares ou da confiança destes. Estima-se que cerca de 500 bebês tenham sido sequestrados na época (Colombo, 2019). As listas de pessoas disponíveis para “adotar” estas crianças eram fornecidas também em grande medida pela Igreja Católica, que inclusivamente enviava padres aos campos de concentração para benzer os instrumentos de tortura. O grande argumento ideológico, tanto dos militares como dos religiosos, era o seguinte: os pais podem ser culpáveis, marxistas incuráveis, mas, toda criança é inocente, pelo que é possível salvá-la educando-a numa família ocidental e cristã.
Até junho de 2019 tinham sido encontrados 130 netos pelas Avós da Praça de Maio, que recorrem centralmente à “coleta de dados genéticos, a partir de denúncias e convocatórias constantes e da própria busca voluntária de pessoas que se apresentam porque desconfiam terem sido sequestrados e adotados durante a ditadura” (Colombo, 2019).
Em outro plano, temos uma nova dimensão do movimento de mulheres, mais atual, com destacada presença do feminismo em geral e do feminismo socialista em particular, que vem cristalizando uma grande expressão na luta pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito e que resgatou a memória de crítica à ditadura argentina. Este movimento demonstrou politização uma vez que as mulheres apareceram novamente como frente de luta contra as políticas neoliberais do governo Macri, contra a Igreja Católica – mesmo sendo liderada por um Papa argentino –, contra os governadores peronistas e contra com o feminicídio – com o destacado lema Ni Una Menos que deu o nome ao movimento –, demonstrando a luta a favor da vida de todas as que se reconhecem mulheres.
Avelluto (2019) destaca que, mesmo partindo de um grupo historicamente marginalizado, os importantes momentos de luta do Ni Una Menos vêm se repercutindo mundialmente desde 2015, a exemplo da institucionalização do 3 de junho como dia de luta, quando se convocou a primeira marcha ampla e nacional de mulheres, lésbicas, travestis e trans e, no ano 2016, a primeira marcha internacional.
Destacamos que o crescimento dos Encontros Nacionais de Mulheres8 foi constante, fato que permitiu que se realizassem as grandes mobilizações conhecidas como “maré verde”9 e simultaneamente massificou os posteriores encontros, nos quais se pautou de forma clara o tema do aborto seguro, livre e gratuito. Este tema, no marco da Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto, foi elaborado em 2006 e apresentado pela primeira vez em 2007 como projeto de lei de Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG), logrando força social de fato no movimento de mulheres.
Avelluto, politóloga e integrante do Proyecto Política Feminista, referiu que a “geração verde-violeta” cresceu exponencialmente sob uma autogestão feminista, participativa e horizontal, um processo que vem crescendo na Argentina e que “permitiu ressuscitar a história e despertar os sonhos da revolução” (Avelluto, 2019: 28).
Devido a esta pressão política do movimento de mulheres, no ano 2018, o presidente Maurício Macri – a quem caracterizamos como a expressão política de uma guinada à direita e extrema-direita na superestrutura política da sub-região da América do Sul – e o Congresso da Nação Argentina não tiveram alternativas a não ser apresentar, em forma de projeto de lei, o tema da IVG.
É preciso ressaltar que na Argentina o Parlamento é bicameral: com uma Câmara de Deputados que representa os cidadãos e uma Câmara de Senadores que representa as províncias. A Câmara de Deputados, em 14 de junho de 2018, aprovou o projeto com 129 votos a favor, 125 contra e uma abstenção, após uma sessão que durou mais de 20 horas. A realização dessa sessão só foi convocada pela mobilização das mulheres e contou com uma marcha gigantesca pelas ruas do país e vigília durante o debate.10 No entanto, o projeto foi derrotado a 8 de agosto do mesmo ano na Câmara mais reacionária, a do Senado, com 38 votos contrários, 31 a favor e 2 abstenções.
Silvia Ferreyra, coordenadora nacional do movimento Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), uma das organizações envolvidas na redação do projeto de lei, ressaltou que, mesmo com baixas expectativas quanto à aprovação da descriminalização do aborto, valeria a pena levar o debate à sociedade. Ferreyra indicou ainda que apesar da derrota alimentava-se a ideia e o otimismo, pois chegou-se a um ponto de politização na sociedade do qual não se vai retroceder: “Se não é este ano será o ano que vem, mas sabemos que vai ser lei” (Ferreyra apud Gil, 2019). O projeto de lei, que foi reapresentado com uma forte mobilização no ano 2019, em ano eleitoral, pretendia assegurar a interrupção voluntária da gravidez até a 14.ª semana de gestação. Contudo, foi rejeitado, mantendo como permissivo legal somente a possibilidade da interrupção da gravidez em casos de estupro e de risco de vida para a mãe.
Feminismo classista e a politização do movimento de mulheres
Nos últimos anos, a politização de movimento de mulheres vem sendo demonstrada em diversos momentos, sendo marcantes as manifestações no Dia Internacional da Mulher, a 8 de março, nomeadamente com a convocação desde há uns anos de uma Greve Internacional de Mulheres, rebatendo os Estados e o empresariado através do mote “se nossas vidas não valem, produzam sem nós”. O movimento de mulheres da Argentina foi um dos que primeiro referendou esse dia de luta, ainda em 2015, respondendo aos feminicídios e à violência machista com a campanha por #NiUnaMenos, que mobilizou mais de um milhão de pessoas em todo o país. Em 2016, se realizou a primeira greve nacional de mulheres, organizada em paralelo com vários países da América Latina e de várias partes do mundo. Essas mobilizações seguiram se desenvolvendo e foram gestando assembleias de organizações e ativistas feministas, sindicais, sociais, desembocando na já referida Greve Internacional de Mulheres, que toma efetivamente força em 2017.
Sobre as mobilizações e as lutas do movimento de mulheres na Argentina, se faz mister ressaltar as contribuições sobre o tema dos movimentos sociais e classes trazidas fundamentalmente pelas sociólogas Elizabeth Jelin e Graciela Di Marco. Jelin – que em suas pesquisas enfoca em questões como direitos humanos, memórias de repressão política, cidadania, gênero, família e movimentos sociais – nos apresenta a importância da preocupação pela memória dos desaparecidos políticos frente à “institucionalização do esquecimento”, sendo central sua tese de que não é possível esquecer por decreto, via uma política de Estado que pretende obrigar a esquecer os desaparecidos e que garante impunidade a quem cometeu crimes. Por sua vez, Di Marco – da Universidad Nacional de San Martín (UNSM) na Argentina, onde dirige o Centro de Estudios sobre Democratización y Derechos Humanos e cujas áreas de pesquisa são as mulheres piqueteiras, democratização, movimentos sociais, feminismos e direitos humanos – nos apresenta o conceito de povo feminista. Trata-se de “uma construção que na Argentina antagoniza o catolicismo integral e as demandas de um laicismo mais profundo e de mais democracia” em relação aos direitos das mulheres, frente à dominação do Estado e à cultura latino-americana caracterizada pelo conservadorismo perante as relações de gênero (Di Marco, 2010: 52).
É ainda relevante destacar os aportes de Claudia Laudano – da Universidad Nacional de La Plata, na Argentina – quando ressaltou as múltiplas estratégias que convergiram no movimento de mulheres, no ano 2018, relacionadas com a IVG. No plano político, entretanto, pretende-se limitar a elaborar uma agenda de políticas públicas para toda a América Latina. Concordamos plenamente com Laudano no seu apoio e elaborações em defesa da Greve Internacional de Mulheres bem como com a sua visão do movimento de mulheres com um caráter internacional (Laudano, 2018).
Em termos de obras nevrálgicas sobre o movimento de mulheres na Argentina, destacamos o livro da ativista queer Mabel Belluci, História de una desobediencia: aborto y feminismo (2014), como central para compreender a luta das mulheres neste país, tendo sido levada a cabo na obra uma importante reconstrução histórica das lutas feministas, e em especial pela descriminalização do aborto.
Sendo a Argentina um dos países da América Latina mais urbano e industrial – situação lograda por meio de genocídio aos povos originários –, o movimento indígena feminino não tem condições de cumprir o papel que tem nos países da região andina, apesar de serem relevantes os trabalhos de Silvana Sciortino (2015, 2018) sobre a organização política do movimento de mulheres indígenas no movimento de mulheres da Argentina.
Quando falamos em movimento de mulheres na Argentina, além da mobilização de milhares de pessoas pelo Ni Una Menos, é preciso também ressaltar o grupo Pan y Rosas enquanto uma das principais correntes militantes de caráter internacional de mulheres que reivindicam um feminismo anticapitalista, socialista, crítico às pautas puramente identitárias que tomam força no feminismo ocidental em geral. Pan y Rosas é parte ativa do apelo à greve geral de mulheres, sendo um agrupamento que luta pela emancipação da mulher, contra todas as formas de opressão, evidenciando que os direitos conquistados durante as últimas décadas no quadro das democracias capitalistas não eliminaram a opressão patriarcal nem a exploração.
Sendo as mulheres as mais exploradas entre a classe trabalhadora, constituiriam, portanto, sujeito político central na luta pela emancipação, pelo que se faz fundamental diferenciar a caracterização do feminismo que despontou politicamente no mundo, colocando ênfase na luta da mulher trabalhadora. Angela Davis e Nancy Fraser são nomes que têm se destacado e se colocado em favor da luta por um feminismo para os 99% da população, contra o “feminismo neoliberal”. Neste âmbito, um importante marco teórico é a publicação, lançada a 8 de março de 2019 em diversos países (incluindo no Brasil), Feminismo para os 99%: um manifesto, da autoria de Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser, organizadoras – entre vários coletivos de mulheres – da greve internacional feminina (dia sem mulher). A obra é um chamado potente sobre a necessidade de um feminismo mais amplo, anticapitalista, antirracista, antiLGBTfóbico e indissociável da perspectiva ecológica, alargando, assim, o universo feminista (Arruzza et al., 2019). É uma perspectiva que atua em consonância com um feminismo socialista e classista, que toma força na América Latina sob a luz da descolonização, da denúncia da “impotência do feminismo liberal para responder às contradições vitais que afetam as mulheres após longas décadas de neoliberalismo” e da negação aos direitos básicos, como saúde pública e garantia de vida (D’Atri, 2017b: 30). O ponto fulcral desse feminismo sem barreiras – sejam elas patriarcais, de etnia, religião, gênero ou de marcações geopolíticas – é que fundamentalmente não dissociam a luta feminista da luta de classes em favor de outra forma de organização da sociedade, denunciando a falência e inviabilidade do neoliberalismo, sendo as sociedades meridionais campos de experiência ainda mais brutais deste falacioso sistema.
Entendemos como a partir dessas diversas caracterizações – seja o feminismo para os 99% (Arruzza et al., 2019), o feminismo subalterno (Ballestrin, 2017), o feminismo decolonial (Lugones, 2014; Quijano, 2000), o feminismo popular (D’Atri, 2017a) ou o feminismo anticapitalista e socialista (D’Atri, 2017b; Assunção, 2017) – o movimento feminista aqui retratado de forma heterogênea como frente de luta desafia um feminismo ocidental alinhado com as pautas neoliberais:
(…) acusado por seu universalismo, etnocentrismo, anglo-eurocentrismo, branqueamento e pela negligência de questões coloniais e raciais que atravessam etnias, nacionalidades e geografias. Passou, também, a ser retratado como um feminismo do Norte e de Primeiro Mundo, muito pouco sensível às questões das mulheres não ocidentais, do Sul e do Terceiro Mundo. (Ballestrin, 2017: 1040)
Recuperamos, neste ensejo, não só a relação de exploração, mas também os processos de dominação e conflito demarcados por Aníbal Quijano (2000) como as linhas principais de classificação que identificam a formação do capitalismo colonial moderno, essencialmente marcado pela interseccionalidade das categorias raça, gênero e trabalho. O sociólogo peruano indica que as relações de gênero são ordenadas também pela lógica da colonialidade do poder, conceito que propõe toda revisão e reação a um poder que se organiza numa estrutura colonial – a forma latino-americana de ser subalterno, que explicita, por exemplo, como a não branquitude da classe dominada no subcontinente é utilizada para reforçar a exploração de classe. A relação capital-trabalho se potencializa no sentido da exploração pela variável raça e, também, gênero, etnia, religião, sexualidade – entendida como uma racionalidade específica do pensamento eurocêntrico sem descurar a análise das diferenças de classes – fundamental para definir nossa atual colonialidade (Quijano, 2000, 2005). Quando se fala em colonialidade do poder, estamos falando de política, do Estado e da sociedade civil como palco da luta de classes.
Andrea D’Atri, fundadora do grupo de mulheres Pan y Rosas, expressa a posição das marxistas revolucionárias sobre a questão da opressão das mulheres na sociedade capitalista e das relações entre exploração e opressão. A exploração se dá no terreno econômico, no plano da produção, onde a classe proprietária se apropria do excedente, já a opressão se manifesta no plano cultural, racial e/ou sexual, colocando em desvantagem um grupo social para fortalecer a exploração. Para a autora, o pertencimento a uma classe também delimita os contornos da opressão que sofre uma pessoa. Assim, mesmo que todas as mulheres padeçam em diferentes graus e formas de discriminação (política, econômica e cultural, entre outras), é importante entender que existem diferenças de classes. Neste ensejo, o movimento Pan y Rosas enfatiza que enquanto o gênero une as mulheres, a classe as separa.
Contribuindo para o debate, Diana Assunção (2017) complementa mostrando exemplos que ilustram bem essas barreiras de solidariedade que seriam pautadas somente pelo gênero, como são os casos de Angela Merkel na Alemanha expulsando refugiadas, mulheres e meninas, deixando-as à “sua própria sorte”, ou mesmo o caso de Hillary Clinton nos Estados Unidos, na ocasião das eleições presidenciais de 2016 (nas quais triunfou Donald Trump), pedindo os votos das mulheres pelo fato de ser mulher. Caso tivesse sido eleita, como reagiria o movimento feminista diante de um bombardeio, por exemplo, à Síria, matando mulheres e meninas? (ibidem: 24). Poderíamos ainda acrescentar a “dama de ferro” Margaret Thatcher, mulher, neoconservadora antifeminista e antioperária.
São questões às quais as demais correntes do feminismo ainda não responderam. No Brasil, com o governo de Dilma Rousseff, assim como em outros países da América Latina,11 tivemos presidentes mulheres que não contribuíram efetivamente com pautas próprias de gênero, como a da descriminalização do aborto.
Conclusões: as contribuições do movimento argentino de mulheres em perspectivas continentais e mundiais
Em nossas conclusões, é central entender que o combate contra toda forma de opressão e discriminação é parte indissolúvel da luta da classe trabalhadora para conquistar sua hegemonia contra o conjunto da dominação burguesa. Os movimentos pela libertação da mulher assim como, em geral, os movimentos pelos direitos civis são policlassistas, o que torna permeável as ideologias dominantes que se apresentam como naturais, mas que em momentos de crise e aprofundamento da luta de classes tendem a se radicalizar e surgem então tendências anticapitalistas, sendo o Maio 68 francês um exemplo claro disso.
A convocatória do movimento de mulheres na Argentina inclui constantes jornadas de luta, e os milhares de mulheres nas ruas exigem não só a despenalização do aborto como também: a legalização da interrupção voluntária da gravidez; educação sexual para poder decidir; anticoncepcionais para não terem de abortar; e o aborto legal, seguro e gratuito. Não há dúvidas sobre a relevância da escola política que o movimento argentino de mulheres tem representado, abrindo perspectivas continentais e mundiais de luta por um feminismo amplo em contraponto a um feminismo elitista, hegemonicamente heteronormativo e eurocentrado.
Destaca-se a politização do movimento das Mães da Praça de Maio e sua atuação durante e posteriormente à ditadura, contribuindo ainda com a discussão do feminismo com suas demandas democráticas radicais, funcionais em uma estratégia anticapitalista e necessariamente antipatriarcal.
O movimento feminista abre enormes possibilidades na luta contra a opressão e a exploração através da intervenção política. Na prática, estas intervenções aparecem como consignas democrático-radicais, numa perspectiva anticapitalista e socialista, pelo peso adquirido por este movimento na sociedade do ponto de vista do crescimento das mulheres enquanto força de trabalho. Compondo quase metade da humanidade, as mulheres se encontram numa nova situação histórica ao representar 40,5% da força de trabalho, embora precarizada. Apresenta-se assim como fundamental reconhecer a pluralidade das opressões que as mulheres enfrentam com vista à construção junto à classe trabalhadora – a partir de uma situação de resistência coletiva – de uma nova hegemonia anticapitalista e socialista na América Latina e no mundo.
Referências bibliográficas
Assunção, Diana (2017), Feminismo e marxismo. São Paulo: Edições Iskra. [ Links ]
Arruzza, Cinzia; Bhattacharya, Tithi; Fraser, Nancy (2019), Feminismo para os 99%: um manifesto. São Paulo: Boitempo. Tradução de Heci Regina Candiani. [ Links ]
Avelluto, Valentina (2019), “Gramsci y la crisis de la hegemonía patriarcal”, Catarsis, 1(1), 27-33. Consultado a 26.06.2019, em https://gramscilatinoamerica.files.wordpress.com/2019/05/revista-catarsisdigital.pdf.
Ballestrin, Luciana (2017), “Feminismos Subalternos”, Estudos Feministas, 25(3), 1035-1054. Consultado a 15.02.2019, em http://www.scielo.br/pdf/ref/v25n3/1806-9584-ref-25-03-01035.pdf.
Baratta, Giorgio (2011), Antonio Gramsci em contraponto. São Paulo: UNESP. Tradução de Jaime Clasen. [ Links ]
Bellucci, Mabel (2014), Historia de una desobediencia. Aborto y feminismo. Buenos Aires: Editorial Capital Intelectual. [ Links ]
Colombo, Sylvia (2019), “Avós da Praça de Maio encontram 130º neto roubado durante ditadura argentina”, Folha de S. Paulo, 13 de junho. Consultado a 20.06.2019, em https://www1.folha.uol.com.br/amp/mundo/2019/06/avos-da-praca-de-maio-encontram-130o-neto-roubado-durante-ditadura-argentina.shtml?fbclid=IwAR3OY_rq-hReKVw7WfQtJO0GEq081d2a9DXCx9J17Un7PgGIA-klHcw8JEw.
D’Atri, Andrea (2017a), “Feminismos populares: resistencia o revolución (permanente)”, Ideas de Izquierda, 37(abril). Consultado a 13.05.2019, em http://www.laizquierdadiario.com/ideasdeizquierda/wp-content/uploads/2017/04/31_32_DAtri-Untitled-Extract-Pages.pdf.
D’Atri, Andrea (2017b), Pão e Rosas. São Paulo: Edições Iskra.
Di Marco, Graciela (2010), “Los movimientos de mujeres en la Argentina y la emergencia del pueblo feminista”, La Aljaba, XIV, 51-67. Consultado a 24.11.2019, em http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/aljaba/v14a03dimarco.pdf.
Gil, Tom (2019), “Maré verde argentina volta a reivindicar a legalização do aborto”, EFE, 29 de maio. Consultado a 21.06.2019, em https://www.efe.com/efe/brasil/portada/mare-verde-argentina-volta-a-reivindicar-legaliza-o-do-aborto/50000237-3987444.
Gramsci, Antonio (2002), Cadernos do cárcere – Volume 5: o Risorgimento. Notas sobre a história da Itália. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Edição e tradução de Carlos Nelson Coutinho; coedição de Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira.
Gramsci, Antonio (2016), Cadernos do cárcere – Volume 3: Maquiavel. Notas sobre o Estado e a política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Edição e tradução de Carlos Nelson Coutinho; coedição de Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira (7.ª ed.).
Grosfoguel, Ramón (2008), “Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global”, Revista Crítica de Ciências Sociais, 80, 115-147. Tradução de Inês Martins Ferreira. Consultado a 13.05.2019, em https://journals.openedition.org/rccs/697.
Hall, Stuart (2013), Da diáspora. Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG. Tradução de Adelaine La Guardia Resende. [ Links ]
Laudano, Claudia (2018), “#8M Paro internacional de mujeres. Reflexiones en torno a la apropiación feminista de Tic. Acerca de la apropiación de tecnologías: teoría, estudios y debates”. Consultado a 21.05.2019, em https://www.academia.edu/40653013/_8M_Paro_internacional_de_mujeres._Reflexiones_en_torno_a_la_apropiaci%C3%B3n_feminista_de_Tic.
Lugones, María (2014), “Rumo a um feminismo descolonial”, Revista Estudos Feministas, 22(3), 935-952.
Quijano, Aníbal (2000), “Colonialidad del poder y clasificación social”, Journal of World-Systems Research, VI(2), 342-386. Consultado a 15.01.2019, em http://www.ram-wan.net/restrepo/poscolonial/9.2.colonialidad%20del%20poder%20y%20clasificacion%20social-quijano.pdf.
Quijano, Aníbal (2005), “Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina”, in Edgardo Lander (org.), A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Buenos Aires: CLACSO.
Rojas, Gonzalo Adrian (2006), “Os socialistas na Argentina (1880-1980). Um século de ação política”. Tese de Doutorado em Ciência Política, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. Consultado a 12.06.2019, em http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-25052007-151218/pt-br.php.
Said, Edward (2007), O orientalismo. O Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras. Tradução de Tomás Rosa Bueno (orig. 1978). [ Links ]
Sciortino, Silvana (2015), “Procesos de organización política de las mujeres indígenas en el movimiento amplio de mujeres en Argentina. Consideraciones sobre el feminismo desde la perspectiva indígena”, Universitas Humanística, 79, 65-87.
Sciortino, Silvana (2018), “Consideraciones sobre el movimiento amplio de mujeres a partir del ‘Ni Una Menos’: continuidad histórica, diversidad y trayectorias locales”, Publicar – En Antropología y Ciencias Sociales, 16(24), 27-47.
Spivak, Gayatri C. (2010), Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Editora UFMG. Tradução de Sandra Regina Goulart Almeida, Marcos Pereira Feitosa e André Pereira Feitosa. [ Links ]
Artigo recebido a 01.07.2019 Aprovado para publicação a 06.12.2019
NOTAS
1 Nesta perspectiva, são emblemáticas as eleições de: Hugo Chávez, na Venezuela, em 1998; Luiz Inácio Lula da Silva, no Brasil, em 2002; Néstor Kirchner, na Argentina, em 2003; Tabaré Vazquez, no Uruguai, em 2004; Evo Morales, na Bolívia, em 2005; Michelle Bachelet, no Chile, e Rafael Correa, no Equador, ambos em 2006.
2 Rosso, Fernando; Dal Maso, Juan (2015), “Hegemonia, igualitarismo democrático e anticapitalismo”, Esquerda Diário, 22 de março. Consultado a 21.05.2019, em https://www.esquerdadiario.com.br/Hegemonia-Igualitarismo-democratico-e-Anticapitalismo.
3 Contudo, o sentido do termo subalterno – da forma com que foi retomada pelos intelectuais indianos, neste momento tomando a definição de Spivak (2010) – se dá pela retomada que Antonio Gramsci lhe atribui ao se referir “àquele cuja voz não pode ser ouvida”. Entendendo também que a base do sujeito subalterno seria a heterogeneidade, Guha não avança no estudo filológico do termo conforme Gramsci o elaborou e tampouco coincide com o marxista italiano na sua proposta de emancipação subalterna via luta de classes. O argumento da subalternidade seria parte inerente da teoria pós-colonial inspirado numa maneira particular de interpretar o marxismo gramsciano, como forma de firmar um posicionamento teórico e político contrário às interpretações elitistas do contexto indiano, de caráter colonialista e/ou nacionalista.
4 Todas as traduções apresentadas são da responsabilidade dos autores.
5 Fenômeno político surgido como resposta à crise política e econômica de 2001. Sinteticamente, o “Argentinazo” é uma série de mobilizações de massas que se desenvolveu em diferentes cidades da Argentina de forma simultânea. A bandeira de luta comum para essas mobilizações – que assumiram também a forma de greves – foi a situação socioeconômica vivida pela classe trabalhadora no país frente à derrocada de seus direitos.
6 “Agora, agora, resulta indispensável, Aparição com Vida” e “Julgamento e Punição para todos os culpados”.
7 O monumento nacional mais antigo da cidade de Buenos Aires, inaugurado no dia 25 de maio de 1811, para comemorar o primeiro aniversário da Revolución de Mayo, evento que culminou na primeira independência da Argentina.
8 O Encontro Nacional de Mulheres da Argentina se realiza anualmente desde o ano de 1986, agrupando o conjunto de movimentos sociais de mulheres e partidos políticos com inserção no movimento de forma plural, heterogênea e auto-organizada.
9 Em referência aos lenços verdes que as mulheres e apoiantes em geral da causa usavam e que se popularizou, “tingindo” as ruas de verde em momentos importantes de reivindicação, como no dia de votação do projeto de Interrupção Voluntária da Gravidez.
10 La Izquierda Diario (2018), “Quiénes votaron a favor y quiénes en contra del derecho al aborto legal”, 14 de junho. Consultado a 21.06.2019, em https://www.laizquierdadiario.com/Quienes-votaron-a-favor-y-en-contra-del-derecho-al-aborto-legal.
11 Referimo-nos aos casos dos governos de Cristina Kirchner na Argentina e Michelle Bachelet no Chile.