Serviços Personalizados
Journal
Artigo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Acessos
Acessos
Links relacionados
-
 Similares em
SciELO
Similares em
SciELO
Compartilhar
Relações Internacionais (R:I)
versão impressa ISSN 1645-9199
Relações Internacionais n.25 Lisboa mar. 2010
O Comité de Londres ou a tentativa de contenção da Guerra Civil de Espanha
Rui Vieira
Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mestrando em História pela FCSH– UNL.
LUÍS SOARES DE OLIVEIRA
Guerra Civil em Espanha: Intervenção e Não Intervenção Europeia
Lisboa, Prefácio, 2008, 282 páginas
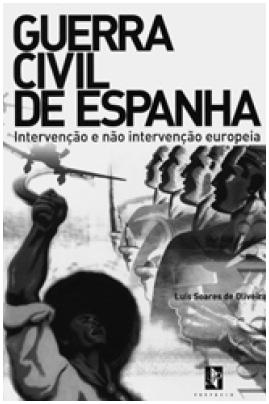
Não é habitual depararmo-nos com um título tão esclarecedor sobre o conteúdo da obra que designa. Neste caso, Luís Soares de Oliveira propõe-se fazer a história de uma realidade complexa, balizada entre o Verão de 1936 e Março de 1939, guiando o leitor através das múltiplas vicissitudes que marcaram a existência do mecanismo de limitação do conflito enunciado no subtítulo, e matéria central de Guerra Civil em Espanha: Intervenção e Não Intervenção Europeia. Pelo caminho, expõe os meandros bizantinos que presidiram à sua implementação, servindo-se de um estilo directo e vigoroso. O resultado é um exercício clássico de história política e diplomática, embora em registo distinto daquele que tem caracterizado a produção historiográfica alusiva à conflagração civil espanhola dada ao prelo entre nós nos últimos dois decénios e meio, na qual o problema é usualmente focado a partir do ponto de vista português (sobre a participação directa ou os efeitos produzidos pelos acontecimentos da Espanha na realidade nacional). O objecto e objectivo deste livro afastam-se dessa linhagem, sendo privilegiada uma visão de conjunto, extensiva, como veremos, à atitude das principais potências europeias face à situação de emergência gerada pela sublevação do Ejército de África, de 18 de Julho de 1936, contra o Governo da Frente Popular saído das eleições de 16 de Fevereiro desse ano.
COMO NÃO INTERVIR, INTERVINDO OU VICE-VERSA
A necessidade de neutralizar um eventual efeito de contágio do conflito, sentida sobretudo pela França e pela Grã-Bretanha, enquanto consideração central à génese e aplicação prática do conceito da não intervenção durante a Guerra Civil de Espanha, constitui justificadamente uma das questões-chave exploradas neste livro. Embora confira mais visibilidade à actuação das duas velhas aliadas da Entente, Soares de Oliveira passa também em revista os interesses da Alemanha, da Itália e da União Soviética, auscultando a sua evolução ao longo de quase três anos de guerra. O cuidado posto na análise dos factos é manifesto na perseverança com que escalpeliza os detalhes das movimentações diplomáticas, abordagem a que certamente não será estranho o facto de estarmos em presença de um diplomata com longa experiência.
Embora criatura francesa, a política concertada de não intervenção acabou por ser posta em marcha pelos britânicos, que reuniam as condições e a vontade política necessárias para assumir esse papel em grau superior ao dos seus aliados de além-Mancha. À medida que os decisores em Londres e Paris adoptam esta solução como resposta ao problema espanhol, a partir de Setembro de 1936 a resiliência do bloco formado pelas duas democracias liberais não só se manteve intocada como até se reforçou, tal como Soares de Oliveira atesta com clareza, resistindo às tentativas de explorar quaisquer divergências entre ambas, ensaiadas pelas diplomacias alemã e italiana. Por outro lado, o autor demonstra até que ponto a diplomacia francesa estava disposta a sacrificar a defesa da II República espanhola em prol do vital entendimento com Londres em tempos de apaziguamento à outrance. Auxiliar o Governo legítimo espanhol, tentando resistir à tentação representada por uma intervenção directa ou pelo fornecimento de material de guerra às claras e em grande escala, eis o dilema com que Paris se debateu durante as primeiras semanas do conflito que ameaçava de morte a versão espanhola do Front Populaire. Esta postura, contudo, depressa seria superada em favor de um pragmatismo não intervencionista amparado na Grã-Bretanha.
OPERA BUFA EM CENÁRIO MULTILATERAL
Uma vez consolidada a farsa em que se convertera o Acordo de Não Intervenção, as duas democracias ocidentais nela envolvidas acabariam por negar à República espanhola o acesso aos abastecimentos de que carecia para enfrentar eficazmente os rebeldes. A verdadeira essência do acordo é, a este respeito, resumida de forma lapidar:
«Os estados aderentes ao Acordo não se dispuseram a colaborar com o governo legítimo de Espanha para o ajudar a pôr cobro a uma situação reconhecidamente irregular criada no país; dispuseram-se sim a dificultar ao Governo Espanhol a repressão de uma sublevação com que estava confrontado» (p. 86).
Seria difícil enunciar de modo mais claro as verdadeiras predisposições dos signatários. Com a implementação da vigilância marítima e do bloqueio naval, a regularidade dos fornecimentos que rumavam aos portos em mãos do Governo de Valência ficou seriamente comprometida, sobretudo devido à impunidade com que as marinhas alemã e italiana conseguiam interferir nesse comércio de guerra. Como se sabe, o mesmo nunca chegou a acontecer com os fornecimentos aos sublevados. Embora a questão da guerra no mar não seja pormenorizada pelo autor, por razões de economia de espaço e clareza narrativa, a ausência de uma marinha amiga capaz de mostrar a bandeira em todo o Mediterrâneo e proteger as linhas de abastecimento de armas e – o que era talvez ainda mais importante – de combustíveis líquidos, viria a revelar-se central na agonia da República[1].A isto somava-se o facto de não ser reconhecido estatuto beligerante a nenhuma das duas facções pelo Comité de Londres, sob pretexto de não se tratar de um conflito armado entre dois estados soberanos. Este detalhe jurídico reveste-se da maior importância, não só por ter servido para que o conflito fosse ignorado na Sociedade das Nações (SDN), mas também devido às gravíssimas consequências que acarretou em termos humanitários: à luz do direito internacional, a beligerância constituía condição sine qua non para a aplicação das convenções de Haia (1899 e 1907) e de Genebra (1929), relativas às leis da guerra e ao tratamento devido aos prisioneiros. Curiosamente, os sucessivos governos republicanos, de Manuel Azaña a Negrín, passando por Largo Caballero, recusaram-se sempre a reconhecer juridicamente a existência do estado de guerra, preferindo manter a figura da sublevação interna.
A articulação entre teias complexas de acontecimentos constitui outro ponto forte de Guerra Civil de Espanha, esforçando-se o autor não só por examinar as repercussões imediatas do conflito na Europa, mas também, em sentido inverso, eventos relevantes ocorridos em alguns dos países que aderiram à não intervenção (com ênfase nos casos britânico e francês), e os seus reflexos na gestão dos trabalhos do Comité de Londres. É disso exemplo a reconstituição dos atritos entre Anthony Eden, pouco inclinado a contemporizar com os ditadores (a ponto de considerar uma aliança com Moscovo, ideia peregrina para a maioria dos seus correligionários Tories), e o máximo paladino do appeasement britânico, Neville Chamberlain. Aliás, a ascensão quase incontestada deste último após a demissão de Eden do cargo de secretário de Estado do Governo de Sua Majestade, será recebida com grande alívio por conservadores de todo o jaez, e muito especialmente, tal como Soares de Oliveira faz questão de referir, pelas cúpulas dirigentes dos regimes alemão e italiano e pelos sublevados espanhóis, citando Teotónio Pereira a partir do seu posto em Salamanca: «a reviravolta da política externa britânica produziu em toda a Espanha nacional tanto ou mais regozijo do que a reconquista de Teruel» (p. 232).
Quanto ao país mais débil e periférico do bloco autoritário alinhado com os rebeldes espanhóis, Soares de Oliveira subscreve a tese tradicionalmente aceite sobre as motivações do Governo português e o seu posicionamento decididamente pró-nacionalista, assumido desde a primeira hora: a de que terão sido ditados por um imperativo de sobrevivência nacional (e de continuidade do regime salazarista). O Portugal do Estado Novo é inequivocamente apresentado como a nação que mais teria a perder perante um cenário de agravamento ou internacionalização da guerra que se travava do outro lado da fronteira, pois «todo o seu espaço metropolitano estava em risco de não-sobrevivência» (p. 93), sem que no entanto sejam exploradas outras vertentes do problema.
PROTAGONISTAS
Ao longo do livro, o autor entrega-se a alguns exercícios de análise psicológica a propósito dos principais actores do drama. Se alguns traços gerais evocados sobre Hitler, Estaline, Mussolini ou mesmo o próprio Franco, não deixam de representar matéria fundamental no fluir da narrativa, a verdade é que é sobre as misérias e grandezas dos representantes das democracias parlamentares que prefere concentrar a sua atenção. Quanto a Eden, e muito embora Soares de Oliveira não se coíba de mencionar impressões – amiúde mordazes, e de um modo geral, pouco lisonjeiras (nomeadamente a imaginação exígua e uma veia temperamental nada anglo-saxónica) – sobre a sua personalidade e qualidades de estadista, emitidas por contemporâneos, o balanço final é talvez menos áspero do que poderia imaginar-se a priori, sobretudo se tivermos em conta a sua atitude de desconfiança face às mal disfarçadas intenções de alemães e – sobretudo – italianos, sendo que em relação a estes últimos aquela parece ter sido fortemente condicionada por percepções negativas sobre os transalpinos e o seu ditador. A noção de que Mussolini terá sido a verdadeira bête noire de Eden, a boa distância de qualquer outro líder totalitário do seu tempo, transparece ao longo da leitura. Para Soares de Oliveira (que aponta a inflexibilidade como principal defeito do estadista britânico), a obsessão que Eden nutria sobre uma inflacionada ameaça italiana aos interesses britânicos no Mediterrâneo e, por arrasto, no Próximo Oriente e na África Oriental[2], acabaria por se revelar prejudicial, ao fazê-lo relegar para segundo plano a importância do expansionismo nazi.
A postura adoptada pelo Quai dOrsay perante o conflito espanhol espelhava-se nas próprias hesitações de Léon Blum, descrito como um líder atormentado pela tortuosidade das soluções possíveis de ajuda a Madrid. Impostas pelo seu contexto político nacional, estas acabaram por traduzir-se num jogo de sombras chinesas, bem à imagem da ambiguidade mais ou menos intencional de que se revestirão as decisões emanadas pelo Comité de Londres, no qual a França acabou por desempenhar um papel bastante subalternizado. Com efeito, e após alguns fornecimentos iniciais de armamento diverso e aviões, a contribuição gaulesa, ou melhor, do Front Populaire, em socorro dos seus parentes ideológicos, resumir-se-ia à de plataforma para o trânsito de armas e voluntários através da fronteira pirenaica, embora sempre sujeita a fases cíclicas de abertura e fecho. O encaminhamento de material de guerra para a Espanha republicana por esta via acabaria por produzir mais danos do que benefícios, ao ser frequentemente retido em território francês durante os períodos de encerramento da fronteira.
O perfil de Juan Negrín, homem mais pragmático que Azaña e intelectualmente superior a Largo Caballero, é talvez o menos informado e por isso o mais esquemático de todos quantos são traçados na obra. A lenda negra construída em torno da figura de Negrín, segundo a qual este pouco mais teria sido do que uma marioneta – um «inocente útil» (p. 141) – nas mãos do PCE e em última instância de Estaline, foi já desmontada de modo convincente nas obras de Ricardo Miralles e Enrique Moradiellos e no último volume da vasta trilogia de Ángel Viñas dedicada à história da II República em guerra. Se a figura de Negrín em início de mandato foi há muito marcada com o ferrete da subserviência aos interesses do Komintern por certa historiografia próxima das construções ideológicas franquistas, não é menos certo que o Negrín dos últimos tempos da República seria menorizado por autores situados à esquerda do espectro político espanhol, em parte devido ao contributo de Indalecio Prieto nos anos do imediato pós-guerra, induzido por antipatia pessoal[3].
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A tese de que a União Soviética teria decido intervir em Espanha com o intuito de provocar uma guerra a ocidente, para assim deixar exangues as potências capitalistas[4], não resiste ao cotejo com alguns dos recentes contributos da historiografia espanhola, a que devemos acrescentar o trabalho de Yuri Rybalkin[5], unânimes em considerar que a decisão soviética de lançar a «Operação X» (nome de código atribuído à ajuda militar ao Governo republicano) foi em larga medida improvisada ao sabor das circunstâncias concretas em que se produziram o alzamiento e a reacção governamental, não lhe sendo estranho, também, o precoce auxílio italiano ao directório rebelde. Por outro lado, e sobre o papel do Partido Comunista Espanhol nos anos da guerra civil, para além do que compagnons de route ou detractores pró-franquistas possam afirmar em extremos opostos, este nunca chegou a representar uma força hegemónica e omnipresente, fiel aos ventos que soprassem de Moscovo. Na realidade, os comunistas espanhóis e, em larga medida, o próprio Negrín, limitaram-se a gerir a ajuda técnico-militar proporcionada por Estaline num quadro de escassez de fontes de aprovisionamento de material de guerra moderno sem quaisquer restrições, servindo-se do poderoso capital simbólico a ela associado em função das suas próprias agendas. Além disso, o peso relativo da máquina militar montada pelos soviéticos em Espanha nunca chegou a constituir equivalente, sobretudo em termos quantitativos, ao vasto investimento em meios materiais e humanos em que apostaram Hitler e Mussolini. No Outono de 1938, o prestígio do PCE estava já seriamente corroído por sucessivos revezes militares, pelo esgotamento generalizado dos recursos à disposição do Governo e por uma sensação crescente de irreversibilidade da derrota. Este facto seria confirmado pelo golpe de 5 de Março de 1939, liderado pelo coronel Segismundo Casado, a apenas duas semanas da queda da República, mas cujas sementes vinham a medrar há algum tempo, alimentadas pela dupla convicção, disseminada entre alguns políticos e oficiais superiores, da inutilidade em prosseguir a resistência a todo o custo defendida por Negrín e pelos seus aliados comunistas, e por uma ingénua esperança em conseguir uma paz negociada com Franco. Ao desencadear uma pequena guerra civil no seio da República, Casado e os militares que se lhe juntaram, secundados por um núcleo de anarquistas e socialistas antinegrinistas, apenas se limitaram a confirmar com a sua acção desesperada o que era patente desde o fracasso em que redundou a ofensiva do Ebro, a par com o ulterior reconhecimento de iure do Governo de Burgos pelas diplomacias britânica e francesa na esteira do Acordo de Munique: a República espanhola perdera a guerra.
Quanto às intenções espanholas de respeitar a neutralidade portuguesa na base de um acordo visando o entendimento mútuo em caso de conflito generalizado no continente europeu, transmitidas por Nicolás Franco ao Governo português (p. 254), e depois consagradas no Pacto Ibérico, hoje sabemos quão pouco valia a palavra do Generalíssimo, como demonstrou à saciedade Manuel Ros no seu estudo sobre os planos imperiais do primeiro franquismo (A Grande Tentação. Lisboa: Oficina do Livro, 2009).
O trabalho de edição desmerece o esforço do autor, sendo óbvio que o livro poderia ter beneficiado de uma revisão mais rigorosa e que muito haverá a ganhar numa segunda edição. São detectáveis reiteradas gralhas ao longo do texto, bem como algumas imprecisões que de outro modo teria sido fácil evitar. Assim, Lugo (p. 194) não é um porto, distando das duas principais cidades portuárias que lhe ficam mais próximas (Corunha e Vigo), 80 e 130 quilómetros em linha recta, respectivamente; Largo Caballero não fez parte do Governo saído das eleições de Fevereiro de 1936 – muito embora tenha desempenhado um papel relevante na mobilização dos sindicatos logo após a revolta do exército – tendo a pasta da Guerra sido entregue ao general Carlos Masquelet, um dos poucos militares em quem o novo executivo podia confiar sem maiores sobressaltos. À data da sublevação, esse cargo era acumulado pelo presidente do Governo, Santiago Casares Quiroga (Largo só viria a tomar posse como ministro da Guerra em Setembro).
O texto é ilustrado por quinze fotografias de arquivo, reproduzidas à razão de uma por página em caderno central, e complementado por três anexos. No primeiro é transcrita a nota contendo as condições de adesão de Portugal ao acordo internacional de não-intervenção, de 21 de Agosto de 1936, seguindo-se-lha uma lista dos estados signatários com as respectivas datas de adesão, colhida no boletim do Institut Juridique International, e o texto do Pacto de Amizade e Não Agressão celebrado entre Lisboa e a Junta de Burgos a 17 de Março de 1939, a duas semanas do fim da guerra civil.
NOTAS
[1] Após um punhado de obras dedicadas a esta temática, hoje com estatuto de referência, entre as quais salientamos os trabalhos incontornáveis de Michel Alpert (La Guerra Civil Española en el mar. Madrid: Siglo XXI, 1987, reeditado em 2008 pela editora Crítica) e dos contra-almirantes Fernando e Salvador Moreno (La guerra silenciosa y silenciada. Historia de la Campaña Naval durante la Guerra de 1936-39. Madrid: Lormo, 1998), devemos também referir o bem conseguido trabalho de síntese de José Santacreu Soler, Tres Claves de la Guerra Civil en el Mediterráneo (Simat de la Valldigna: La Xara Edicións, 2008).
[2] Esta convicção seria reforçada pela escala da intervenção italiana na Espanha e pela insolência da Regia Marina, cujas flotilhas de submarinos se afadigaram numa campanha de corso no início de 1937, dirigida contra todos os navios susceptíveis de rumarem a portos republicanos, indiferentemente do pavilhão arvorado (acções de pirataria à luz do direito marítimo internacional).
[3] A propósito de Negrín e da sua pretensa subserviência a Moscovo, cremos ser oportuno citar o testemunho do secretário pessoal de Azaña, Santos Martínez Saura: «Don Juan no queria saber nada del marxismo revolucionario. Ni era tampoco hombre que se dejase manejar por nadie. Puede que en aquel caso lo pareciera, pero de ahí no pasaba. Buscaba naturalmente ayuda de Moscú, cuanto más grande pudiese ser ésta mejor, toda vez que no contaba con otra. Habló mucho de unidad, también es cierto, pero obsérvese que se trataba de unidad en los frentes de lucha, en las responsabilidades de la retaguardia, y en modo alguno de unidad orgánica, política o ideológica» (in Memorias del Secretario de Azaña. Madrid: Planeta, 1999, p. 570).
[4] Um dos principais axiomas do discurso ideológico erigido pela propaganda franquista no imediato pós-guerra, a par da ideia de que por detrás da intervenção russa se escondia a intenção apriorística de instalar um regime comunista (uma «república popular» da Europa Oriental avant la lettre), destinada a legitimar o golpe militar e a guerra de «reconquista» contra a «anti-Espanha» que se lhe seguiu, e que viria de algum modo a ser legitimada por autores anglo-saxónicos de registo conservador, tendo por pano de fundo a Guerra Fria e a recuperação do regime espanhol no quadro de mobilização do Ocidente contra o perigo comunista.
[5] Publicado originalmente em Moscovo há nove anos e reeditado sob forma revista em espanhol (Stalin y España. La ayuda militar soviética a la República. Madrid: Marcial Pons, 2007).













