Serviços Personalizados
Journal
Artigo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Acessos
Acessos
Links relacionados
-
 Similares em
SciELO
Similares em
SciELO
Compartilhar
Relações Internacionais (R:I)
versão impressa ISSN 1645-9199
Relações Internacionais n.24 Lisboa dez. 2009
Quem guarda os guardiães?
Helena Carreiras
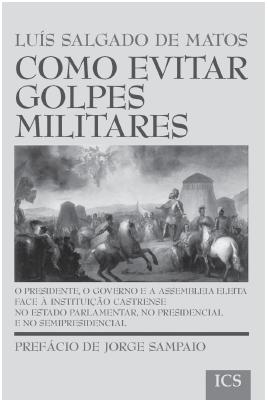
LUÍS SALGADO DE MATOS
Como Evitar Golpes Militares. O Presidente, o Governo e a Assembleia Eleita Face à Instituição Castrense no Estado Parlamentar, no Presidencial e no Semipresidencial
Lisboa, 2008, Imprensa de Ciências Sociais
Numa obra que suscita diversas perplexidades, Luís Salgado Matos aborda um tema da maior relevância: o da relação entre o formato institucional e a violência política, incidindo especificamente sobre a relação entre as formas de Estado (que o autor prefere não designar por regimes políticos) e os golpes militares. Que forma de Estado previne melhor os golpes militares? Eis a questão que se propõe escrutinar. A resposta é antecipada nas primeiras páginas: o presidente forte e republicano afigura-se a melhor instituição para evitar golpes militares. Concretizando um pouco mais, o autor sustenta que «Os Estados com presidentes fortes dominam as respectivas instituições castrenses em tempos de crise, ao passo que os parlamentares, mesmo com chefe de governo forte, os fascistas e as monarquias tradicionais, têm mais probabilidades de serem arrastados pelas Forças Armadas» (p. 82). Noutro momento, a resposta é ainda especificada no sentido de que «a investigação empírica comparativa sugere que Estados semi-presidenciais e em parte livres a propensão para o golpe militar é quatro vezes menor que nos parlamentares. Para evitar golpes militares nos Estados pobres, o estado semipresidencial é pelo menos quatro vezes mais eficiente do que o parlamentar e o presidencial» (p. 25).
Baseando-se num quadro analítico singular, desenvolvido em obra anterior (O Estado de Ordens), no qual a organização política é concebida como sendo composta por três ordens hierarquizadas a que corresponderiam as três «instituições triangulares» – Igreja, Forças Armadas e Estado –, LSM desenvolve aqui um minucioso e pormenorizado trabalho de compilação de informação empírica de amplo fôlego histórico. Numa sequência nem sempre compreensível ou articulada, passa em revista diferentes tipos de instituição castrense; analisa as relações entre esta e variadas formas de organização política; revê o pensamento político sobre a questão militar desde Platão a Carl Schmitt, passando pelo Renascimento, o Iluminismo, a Revolução Americana ou a Revolução Francesa; analisa depois as relações entre o chefe de Estado e as Forças Armadas no que designa diferentes formas de Estado, dando particular atenção a casos como o americano, o inglês e o francês, singularizando ainda o caso Português; distingue aqui entre períodos de crise e de estabilidade política, preferindo o exame dos primeiros, considerados mais aptos a medir «a capacidade de a instituição Estado dirigir a instituição castrense»; avança depois para um exercício de quantificação dos golpes militares entre 1900 e 2006 nos países membros das Nações Unidas nesse último ano, com base no qual argumenta a favor da tese central da obra.
Faz tudo isto, porém, de forma razoavelmente desorganizada. Por outro lado, a obra reveste-se de problemas metodológicos que convém evidenciar na medida em que fragilizam o argumento e as principais conclusões. Tal como reconhece o próprio autor, em capítulo conclusivo, «A definição das categorias não é pacífica, a recolha das informações é arriscada, a própria interpretação é [ ] discutível» (p. 307). Somos tentados a concordar.
CATEGORIAS ANALÍTICAS E PRECISÃO CONCEPTUAL
Uma primeira observação refere-se à definição de categorias analíticas centrais nesta obra, designadamente a tipologia de «formas de Estado». Ao contrário do que sugere Jorge Sampaio no prefácio, o elenco apresentado não é objecto de uma caracterização elaborada, carecendo de explicitação. LSM distingue estados parlamentares, presidenciais, semipresidenciais (classificados como estados com «divisão de poderes», embora o Estado parlamentar «em rigor não conheça separação de poderes» e só os presidenciais sejam «Estados de separação de poderes no sentido rigoroso» (p. 308) –, fascistas, tradicionais-contemporâneos, comunistas, de partido único, islâmicos e militares (definidos como «Estados sem divisão de poderes»), aparecendo ainda classes como «modernos» ou «directoriais». Estas categorias procedem de diferentes critérios classificatórios e a ausência de clarificação torna, no mínimo, nebulosa a variável independente deste estudo. Não admira pois que no momento de avaliar relações empíricas tenha lugar um exercício nem sempre claro de exclusão/inclusão de certas categorias de estados à medida que se vai testando o impacto de outras variáveis «exógenas». Seria também interessante ter incluído, neste âmbito, referências a estudos ou autores que vêm discutindo o conteúdo ou os impactos destas categorias sobre os desempenhos políticos, tais como Robert Elgie, ou, no caso português, Marina Costa Lobo.
Quanto à variável dependente, existência de golpes militares, o autor é convincente na demonstração da relevância do fenómeno: considerando o universo de referência (os 193 estados-membros das Nações Unidas em 2006), salienta o facto de quase dois terços das organizações políticas actuais terem conhecido um golpe militar ou equivalente desde o começo do século xx. Contudo, a questão de saber de que fenómeno falamos não é irrelevante. E aqui, o problema metodológico da definição do conceito e da sua medida, ou seja, saber que instâncias do fenómeno classificar como tal, sendo particularmente complexo, é tratado de forma ligeira e não é acompanhado por uma revisão dos debates teóricos sobre o tema, o que teria sido desejável, dada a sua centralidade neste trabalho. Deixando de lado esta discussão, limitemo-nos a assinalar que para o autor são relevantes todas as situações que indiciem a ausência de controlo da violência organizada por parte do Estado (p. 34). Definindo «golpe» em geral como «a violação das regras de relacionamento no interior da organização, [implicando] um mínimo de violência» (p. 27) [não se encontra uma definição explícita de golpe militar], o autor inclui-o no âmbito do conceito «golpes falhados, golpes denunciados pelo governo, ainda que sem confirmação independente, desde que não sejam pura intoxicação [cabe perguntar de que forma se avaliou este aspecto ], movimentos separatistas armados, guerrilhas e violências civis sobre o Estado desde que militarizadas» (p. 34). Incluem-se pois movimentos cujo autor não é a instituição castrense do Estado, e excluem-se movimentos não armados, admitindo-se que «A classificação golpes militares envolve [ ] animais bem diferentes, movimentos sem derramamento de sangue e guerras civis que mataram milhares de seres humanos» (p. 35). Reconhecendo a dificuldade em trabalhar com um conceito tão contestado como este, cabe perguntar se não faria sentido uma análise mais circunstanciada de tipos de golpe militar ou se incluir na mesma categoria formas tão variadas de violência política, tais como um golpe falhado e uma guerra civil, não supõe um inaceitável exercício de conceptual stretching.
Outros exemplos menores de falta de clareza e de certa confusão na definição de categorias de análise podem encontrar-se um pouco por todo o texto. Um caso será suficiente. No capítulo 17, por exemplo, ao listar as características que tornam o presidente forte e republicano «o melhor baluarte contra golpes militares», afirma-se simultaneamente que o presidente é o chefe do Estado, o qual é o chefe da organização política, e que o chefe do governo é o chefe da instituição Estado (p. 331). De uma leitura teimosa ressalta a ideia de que o Estado é referido umas vezes como a organização política no seu todo e outras vezes como uma instituição: para um leitor menos insistente, esta distinção não é evidente. Este tipo de situações torna a leitura do texto uma experiência por vezes perturbadora.
FONTES DE INFORMAÇÃO, RELAÇÕES ESTATÍSTICAS E MECANISMOS CAUSAIS
Uma segunda área a merecer considerações metodológicas tem que ver com o processo de demonstração e prova relativamente à suposta relação entre formas de Estado e golpes militares. Do ponto de vista das fontes sobre golpes militares importa notar que a sua fragilidade é reconhecida pelo autor, que dela tem consciência, sendo aliás critico de Stepan e Kratch, pela presumível dificuldade em verificar os dados que apresentam num texto em que, menos audaciosamente que LSM, analisam a incidência de golpes militares num conjunto de países democráticos pelo menos um ano entre 1973 e 1989 (p. 33). Em Como Evitar Golpes Militares, somos a este propósito frequentemente remetidos para o anexo estatístico, no qual se sintetiza o extenso acervo de informação recolhida para o longo período entre 1900 e 2006 e para o conjunto dos 193 estados considerados. Uma primeira perplexidade resulta da referência às fontes relativas a «número e data dos movimentos militares», incluindo os arquivos pessoais do autor produzidos a partir da imprensa periódica, algumas obras de referência e uns poucos sítios na internet, incluindo a tão citada wikipedia. A suspeita é a de que por aí existirão muitos animais raros, como o célebre gato-cão de Sartori
Uma segunda e mais importante perplexidade decorre da constatação de que, no plano da variável independente, para cada país se classifica a forma de Estado existente em 2006, ao passo que no registo do valor assumido pela variável dependente se indica – e apenas dicotomizando em presença ou ausência – a ocorrência de golpes militares durante todo o século xx e nos primeiros seis anos do século xxi. Sendo certo que não se esperam flutuações significativas nas formas de Estado (na acepção de LSM, pois na literatura sobre o tema utiliza-se a designação de regimes políticos), o pressuposto de que «na maior parte dos casos é estável a forma de Estado de cada organização política» exigiria um nível de prova empírica que não é fornecida. Igualmente, não fica clara a forma como o autor procura corrigir os principais erros derivados deste pressuposto, embora num ou noutro momento chame a atenção para situações pontuais onde a classificação poderia ser alterada (por exemplo na p. 316). Isto é tanto mais importante quanto LSM afirma que «Se a forma de Estado mudou, as estatísticas serão perturbadas: se um Estado era parlamentar em 2006 e sofreu um golpe em 1920, quando era semipresidencial, fica prejudicada a imputação de golpes às formas de Estado» (p. 308).
Neste plano surge a questão de observar até que ponto não estaremos perante relações espúrias, ou seja, a necessidade de controlar a interferência potencial de outras variáveis que, por sua vez, se associem às formas de Estado e sejam responsáveis pelas variações observadas. Aqui, LSM procura avaliar a relevância de um conjunto de outros factores que poderiam, na sua perspectiva, explicar a eficácia das formas de Estado sobre a instituição castrense (ou seria a sua eficácia em assegurar que a instituição castrense garanta efectivamente o monopólio dos meios organizados da violência legítima?. Isola três: a «idade da organização política» (medida pela data da independência), o «grau de rendimento individual» (medido pelo pib per capita) e o grau de liberdade (medido pelo índice Freedom House). Uma vez mais, sobretudo no caso deste último factor, confronta-se a situação de países em 2006, no concernente a uma variável para a qual só existe informação nas últimas décadas com a incidência de golpes desde 1900, o que é no mínimo anacrónico. Por outro lado, fica a dúvida sobre a razão por que não se incluem neste teste factores relacionados com padrões de relações civil-militares, ou pelo menos – pois é preciso reconhecer que seria virtualmente impossível encontrar informação empírica para medir esta dimensão no universo e nos períodos considerados – indicadores relacionados com a natureza e estrutura das próprias organizações militares. Embora LSM se refira profusamente a estes aspectos ao longo da obra, acaba por não os considerar suficientemente importantes para serem incluídos neste momento da demonstração. Em suma, não se apresentam os fundamentos teóricos de hipóteses que são também deficientemente explicitadas sobre o efeito dessas potenciais variáveis intervenientes. Teria, aliás, sido interessante confrontar também aqui estes resultados com outros estudos recentes onde se realizam análises do mesmo tipo. É o caso de Cheibub[1], que procura responder à questão de saber por que é que as democracias presidenciais colapsam mais facilmente do que as parlamentares. Com base em informação relativa a todas as democracias entre 1946 e 2002, o autor sugere que isto não acontece devido aos incentivos gerados pela forma de governo, designadamente a independência do executivo e da legislatura, mas devido ao facto de os regimes presidenciais existirem em países onde nenhuma democracia tem grandes hipóteses de sobreviver.
É certo que num trabalho com este âmbito e abrangência terão de se operar inevitavelmente algumas simplificações metodológicas. Contudo, mesmo assumindo a existência de correlações empíricas em condições particulares, que LSM invoca para sustentar a ideia de que «o presidente forte de uma República legal é a melhor instituição moderna para evitar golpes militares, sobretudo nas organizações políticas de países jovens, pobres e com pouca liberdade» (p. 334), fica por interpretar e descrever adequadamente o mecanismo causal que poderia sustentar essa conclusão. Já quando se invocam elementos de dinâmica histórica para fazer extrapolações, a perplexidade permanece: «Se o Estado presidencial e o semipresidencial são mais frequentes que o parlamentar entre os Estados não livres e pobres e mais eficazes a evitarem o golpe militar, isto sugere que, do ponto de vista da dinâmica, eles ajudam, mais do que o parlamentar, a estabelecer uma organização política livre e próspera» (p. 330). Se isto fosse assim, o que justificaria então que se encontre uma suposta associação entre estados presidenciais e semipresidenciais e entre pobreza e falta de liberdade? A contradição parece óbvia.
NOTA
[1] Cheibub, José António – «Presidentialism and democratic performance». In The Architecture of Democracy: Constitutional Design, Conflict Management, and Democracy. Andrew Reynolds, ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. [ Links ]













