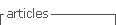Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO -
 Access statistics
Access statistics
Related links
-
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Cadernos de Estudos Africanos
Print version ISSN 1645-3794
Cadernos de Estudos Africanos no.33 Lisboa Jan. 2017
https://doi.org/10.4000/cea.2225
DOSSIÊ
Império, Patronato e uma Revolta no Reino do Kongo
Empire, patronage and a revolt in the kingdom of Kongo
Jelmer Vos
Department of History, Old Dominion University, 8000 Batten Arts & Letters, Norfolk, VA 23529, United States, endereço de correio eletrónico: jvos@odu.edu
RESUMO
Este artigo argumenta que o famoso levante ocorrido no Kongo, em 1913, simbolizou uma rotura nas relações clientelistas estabelecidas entre o Estado colonial português, os governantes do Kongo em São Salvador, e seus eleitores locais. Por um lado, a imposição colonial do trabalho forçado minou um contrato social que fazia o rei do Kongo confiável para os chefes subalternos e seus seguidores. A revolta subsequente contra o governante em exercício, Manuel Kiditu, é explicada em termos de economia moral como uma resposta coletiva ao desrespeito às regras da reciprocidade social por parte de Kiditu e seus assessores. Por outro lado, a quebra nas relações de confiança entre Kiditu e o líder rebelde Álvaro Buta também desempenhou um papel crucial na revolta.
Palavras-chave: Kongo, Angola, dominação colonial, clientelismo, resistência, cultura política
ABSTRACT
This article argues that the famous Kongo uprising of 1913 epitomized a breakdown of patron-client relationships between the Portuguese colonial state, the Kongo rulers at São Salvador, and their local constituents. On the one hand, the colonial imposition of contract labor undermined a social contract that held the king of Kongo accountable to senior chiefs and their followers. The subsequent revolt against the incumbent ruler, Manuel Kiditu, is explained in moral economy terms as a collective response to the repudiation of the rules of social reciprocity by Kiditu and his assistants. On the other hand, a breakdown in relations of trust between Kiditu and the leader of the revolt, Álvaro Buta, also played a crucial role in the revolt.
Keywords: Kongo, Angola, colonial rule, clientelism, resistance, political culture
Desde seu começo nos anos 1960, a historiografia africanista apresentou diversos modelos, muitas vezes conflitantes, para explicar como as estruturas coloniais de exploração no continente foram articuladas através de processos políticos locais, mais particularmente os de dependência (Rodney, 1972), modo de produção (Coquery-Vidrovitch, 1969), extroversão (Bayart, 1993) e governo indireto (Mamdani, 1996). Mais recentemente, Colin Newbury (2003) justificou a interpretação das relações imperiais de subordinação na África inglesa em termos de clientela, conceito que também capta muito apropriadamente a incorporação do reino do Kongo ao império português. Depois que o rei Pedro V (1860-1891) buscou a ajuda militar do governo português em Angola para impor-se numa disputa sucessória com um rival local em 1860, logo se tornou um cliente do antigo aliado europeu, posição consolidada com o estabelecimento do domínio colonial oficial em 1888. Todos os reis que vieram após Pedro V receberam apoio material e eclesiástico de seus patronos portugueses em troca de serviços diplomáticos e de segurança, bem como do pagamento de impostos e fornecimento de mão de obra.
A literatura sobre as relações patrão-cliente na África deixa claro que essas conexões são recíprocas, mas também desiguais, uma vez que o status do patrão é mais elevado do que o do cliente e que, além disso, as coisas trocadas não são da mesma ordem (Barnes, 1986, pp. 8-9). No norte de Angola, Portugal ganhou influência política mediante o fornecimento de benefícios financeiros e outros para os governantes em São Salvador, os quais redistribuíam parte desses recursos entre seus próprios seguidores e chefes subordinados. Na realidade, embora clientes de Portugal, os reis do Kongo desempenhavam o papel de patrões em sua própria comunidade. De acordo com Sandra Barnes, [o] clientelismo é um fenômeno de muitas camadas (ibid.). Os laços que conformam essas redes em camadas de patronato são pessoais e envolvem muitas vezes uma interação face a face. As relações patrão-cliente consistem, portanto, em trocas múltiplas entre parceiros próximos, promovendo sentimentos de solidariedade, endividamento e obrigação entre eles.
O fato de o Estado colonial português em Angola, a exemplo de outros impérios europeus na África e na Ásia, ter sido montado a partir da cooptação de sistemas políticos indígenas tem duas importantes consequências para o estudo da resistência africana ao colonialismo. Em primeiro lugar, ao invés de implementar um modelo padrão de governança, como governo indireto, os administradores coloniais tiveram de improvisar e trabalhar com as autoridades locais, com as quais compartilhavam, divergiam e definiam os objetivos do poder colonial. Por conseguinte, a prática colonial devia-se mais a uma cultura política local, na qual as relações patrão-cliente eram parte integrante de uma hierarquia administrativa, do que a qualquer outro modelo imperial (Newbury, 2003, p. 12). O processo da agregação do reino do Kongo ao império português certamente deu origem a um estilo de governança parecido com governo indireto, o que Mahmood Mamdani (1996) tem classificado como despotismo decentralizado. Mas focando o resultado ao invés do processo, autores como Mamdani acabam colocando muita ênfase nos manejos coloniais, ignorando a atuação africana e as forças contrárias que o Estado colonial não conseguiu controlar (Spear, 2003, p. 9). Por exemplo, para cobrar impostos, mobilizar força de trabalho e impor a ordem, a administração colonial em São Salvador dependia do poder que o rei poderia exercer por intermédio de suas conexões com outros chefes e notáveis no reino. Consequentemente, o domínio colonial era circunscrito por estruturas de autoridade e conceitos de legitimidade política tradicionais. Ao cooptar sistemas políticos indígenas, os impérios traziam assim, involuntariamente, economias morais locais para suas estruturas de governança. Em segundo lugar, quando as demandas por impostos e força de trabalho tornaram-se excessivas e provocaram turbulência no interior da sociedade colonial, as energias então liberadas eram normalmente dirigidas contra os mandatários africanos, que estavam alojados na interface das hierarquias imperial e indígena (Berman, 1998, p. 317). Os dirigentes cooptados, como o rei do Kongo, estavam sujeitos a pressões conflitantes, derivadas de sua dupla função de funcionários públicos, por um lado, e de patrões tradicionais, com suas próprias redes de clientes e de economias morais, por outro (Newbury, 2000, p. 233).
Este artigo analisa o levante do Kongo contra o recrutamento forçado de trabalhadores ocorrido em 1913 dentro de uma estrutura clientelista, argumentando que essa revolta resultou de um colapso nas relações de confiança e reciprocidade entre Portugal, os reis em São Salvador e seus eleitores. Para começar, a imposição colonial do trabalho forçado após 1911 minou o contrato social que tradicionalmente fazia o rei confiável perante os principais chefes do Kongo e seus seguidores. A revolta que eclodiu posteriormente contra o rei em exercício, Manuel Martins Kiditu, é explicada em termos de economia moral como uma resposta coletiva ao repúdio às regras de reciprocidade social por aqueles no poder (Lonsdale, 1992, p. 294). Como o domínio português era exercido por intermédio da corte real em São Salvador, os cidadãos do Kongo passaram a ver na cobrança dos impostos coloniais e nas requisições de força de trabalho uma extensão ilegítima do poder real. A violência perpetrada pelos funcionários locais do Estado colonial, especialmente no processo de recrutamento de trabalhadores migrantes, representou um atentado às fundações morais do reino.
Além da cultura política, o presente artigo destaca as relações pessoais entre as diferentes autoridades no interior do reino como um importante fator para explicar a resistência anticolonial. No final do século XIX, o reino não era mais a construção política centralizada dos primeiros tempos, que conectava povos que eram muitas vezes estranhos uns aos outros, mas sim um aglomerado relativamente pequeno de chefias ligadas por parentesco, filiação religiosa e comércio. Para muitos chefes e anciãos do Kongo, os reis em São Salvador não eram governantes distantes, mas indivíduos que conheciam pessoalmente como participantes de clãs, membros das mesmas igrejas, colegas de escola ou de expedições comerciais. Tratava-se de uma verdadeira comunidade moral, que era mantida junta não somente por um contrato social, mas também através de conexões pessoais (Glassman, 1995, pp. 19-20). Nesse contexto, a ação política estava limitada a ser determinada por emoções interpessoais, tais como fidelidade e traição, além das normas coletivas de conduta política adequada. Na África moderna, como apontou Frederick Cooper (2002), o discurso a respeito dos abusos do poder de Estado não é diferente dos discursos de ciúme no interior de grupos de parentesco (p. 129).
Em resumo, para explicar a resistência do Kongo ao trabalho forçado, temos de entender como as políticas coloniais afetavam as estruturas de autoridade dentro do reino, assim como as noções de legitimidade política e as teias de relações pessoais nas quais elas estavam imersas. A primeira parte deste artigo examina como leis abstratas sobre a força de trabalho colonial foram colocadas em prática no norte de Angola, o que requer a análise da questão do trabalho forçado ao nível do terreno, em que os funcionários in loco (Willis, 1995) da administração colonial interagiam com o rei e seus assessores pessoais. A segunda parte examina as maneiras pelas quais os chefes locais articulavam suas queixas a respeito do recrutamento forçado da mão de obra que, em última instância, deu origem a uma das mais longas revoltas nos primórdios da história colonial de Angola.
Trabalho forçado no reino do Kongo, 1910-1913
Os esforços do poder colonial para coagir os súditos do reino do Kongo a trabalharem por contrato nas plantações em Cabinda, o enclave angolano ao norte do rio Congo, foram a causa subjacente do levante de 1913, em São Salvador. Nos anos que precederam a revolta, soldados e policiais de São Salvador tinham por alvo os chefes de aldeia em todo o reino do Kongo, pressionando-os a arregimentar trabalhadores para o enclave. A violência com que esses agentes coloniais agiam, bem como a urgência por numerário criado pelo imposto de palhota colonial, induziram muitos homens jovens a se inscreverem como trabalhadores em plantações que pagavam pouco, até a revolta de 1913 interromper o fluxo crescente de trabalhadores migrantes do reino. Essa não foi a primeira vez que os aldeões do Kongo foram confrontados com o poder coercitivo do Estado colonial. Desde quando as autoridades coloniais começaram a colaborar com os comerciantes europeus de borracha em Maquela do Zombo no recrutamento de carregadores, por volta de 1900, o governo foi rápido em usar a força na regulação da oferta de trabalhadores africanos. Contudo, o recrutamento de trabalhadores migrantes para Cabinda foi a primeira manifestação de um sistema formalizado de coerção da força de trabalho no próprio reino.
Uma lei portuguesa regulando o recrutamento de trabalhadores para empresas particulares no enclave de Cabinda, colocada em prática em março de 1911, selou a fatídica transformação do Kongo de um próspero centro produtor de borracha em um reservatório potencial de força de trabalho migrante. Com a expansão das plantações de cacau, café e dendê em Cabinda no começo do século XX, os plantadores locais tornaram-se cada vez mais dependentes de fornecimentos externos de mão de obra, sobretudo depois que muitos trabalhadores cabindenses passaram a achar mais atraentes as oportunidades de emprego nas economias urbanas do Congo Francês e do Congo Belga, e dos portos de Luanda e São Tomé[1]. O governo do distrito do Congo, instalado no enclave, respondia às necessidades dos plantadores designando especificamente a região ao sul do rio Congo como uma área de recrutamento de força de trabalho para as plantações. A nova lei estipulava que apenas homens entre 15 e 60 anos de idade e mulheres acima de 16 poderiam ser contratados por Cabinda, e isso somente por um período máximo de um ano[2]. Para pressionar os africanos a trabalharem por contrato, o governo publicou outro decreto, em maio, que obrigava os camponeses a ocuparem suas terras de uma forma ostensiva e a cultivá-las como colonos do Estado ou a alugarem sua força de trabalho, inscrevendo-se como trabalhadores por contrato[3]. Uma vez que a agricultura comercial era pouco desenvolvida no Kongo e as formas locais do uso da terra raramente se adequavam ao modelo prescrito, essa segunda regulação restringia pesadamente as opções legais para os camponeses evitarem o trabalho compulsório.
No entanto, o Estado colonial em Angola carecia de infraestrutura de poder para implementar e administrar efetivamente as leis e as políticas que os funcionários em Lisboa e Luanda planejavam (Clarence-Smith, 1983, p. 168). Em São Salvador, especificamente, a tarefa de exercer a dominação colonial foi confiada a um punhado de oficiais de baixa patente, que recebiam assistência do rei do Kongo e contavam com um pequeno exército de soldados e policiais africanos. Ademais, o controle colonial da força de trabalho africana era severamente restringido pela ausência de trabalhadores livres, isto é, assalariados (Northrup, 2002, p. 208). Os carregadores do Kongo vinham trabalhando havia décadas para comerciantes e viajantes europeus em troca de pagamento, mas seu emprego era geralmente determinado pelos mesmos costumes que regulavam o comércio caravaneiro tradicional. Os chefes de aldeia e os condutores das caravanas, agindo em nome dos carregadores, controlavam o processo de contratação. Os salários eram pagos em bens e tinham de ser negociados para cada atividade, embora fossem se tornando mais padronizados à medida que as firmas europeias ganhavam o controle do comércio de borracha no interior, depois de 1900. Como em outros lugares da África, no Kongo as obrigações de parentesco criavam constrangimentos sociais sobre a luta pela força de trabalho no início do século XX, limitando o acesso de europeus aos suprimentos locais de mão de obra (Coquery-Vidrovitch & Lovejoy, 1985, p. 15). Os oficiais coloniais muitas vezes legitimavam o trabalho forçado como uma ferramenta necessária para libertar os trabalhadores africanos das influências conservadoras de seus parentes mais velhos. A coerção foi um elemento essencial das tentativas coloniais para transformar os africanos em trabalhadores assalariados, embora isso tivesse seus limites. Os dirigentes coloniais nunca estiveram completamente à vontade com a violência, que provocava resistência entre os africanos e despertava críticas em suas próprias fileiras, bem como em observadores internacionais, sobretudo nos britânicos (Grant, 2005).
Dado que o poder de Estado era limitado, os funcionários governamentais de baixo escalão dependiam de ajudas locais para barganhar com os chefes sobre o fornecimento de mão de obra, tornando o recrutamento da força de trabalho um negócio improvisado (Phillips, 1989, p. 11). Para a população do Kongo, a natureza coercitiva do domínio colonial era visível, primeiramente, nos soldados que visitavam suas aldeias para cobrar impostos e reunir mão de obra. Estes usavam frequentemente a violência para convencer os anciãos e seus parentes de que um contrato em Cabinda permitiria que eles atendessem às suas obrigações fiscais para com o governo em São Salvador. Esses contratos eram comparativamente pouco atraentes e os anciãos poderiam preferir empregar a força de trabalho de seus súditos em outros lugares. Enquanto alguns jovens se inscreviam voluntariamente, na expectativa de ter dinheiro para pagar o imposto de palhota, ter algum poder aquisitivo, ou ganhar alguma ascendência econômica sobre os anciãos, outros só iam para Cabinda sob a ameaça da força.
A corte real desempenhava um papel crucial na mobilização da força de trabalho, como acontecia em muitas iniciativas coloniais. A família que mandava no Kongo, composta de dois clãs muito próximos, o Água Rosada e o Kivuzi, favorecia a interferência portuguesa na política do reino desde o final dos anos 1850 e seus filhos ocupavam funções-chave no embrionário Estado colonial. Através deles, a administração colonial era capaz de exercer algum controle sobre a população do norte de Angola, ainda que dentro dos domínios do reino. Em troca, os clãs reais recebiam armas, mercadorias e novos efetivos militares, que eram usados para aumentar seu status e seu poder na região. Devido a essa aliança, os reis e suas cortes tornaram-se a verdadeira face da dominação colonial no Kongo. Todas as medidas coloniais planejadas pelo governo distrital em Cabinda ou pelo governo central em Luanda – tais como as leis de vagabundagem ou o imposto de palhota –, e aquelas promovidas pela administração local – como as campanhas policiais –, foram implementadas pelos reis que se sucederam no poder em São Salvador.
O que deu início ao recrutamento de trabalhadores migrantes no Kongo de forma significativa foi uma visita do rei em exercício, Manuel Martins Kiditu, a José Maria da Silva Cardoso, então governador distrital em Cabinda. Em meados de 1912, Kiditu informou a Cardoso que seus súditos tinham problemas para pagar o imposto de palhota, oficialmente introduzido no Kongo em 1901. Inicialmente, as formas de cobrança desse imposto eram improvisadas e adaptadas às circunstâncias locais, mas após uma série de operações militares em 1911, as demandas fiscais foram impostas com mais vigor e menos flexibilidade. Enquanto isso, a economia da borracha já não estava provendo as famílias do Kongo com renda suficiente, e a produção de colheitas comerciais, tal como o amendoim e o dendê, não era uma alternativa viável no interior. Diversos chefes do reino se cotizaram para viabilizar a viagem de Kiditu a Cabinda, acompanhado de dois conselheiros, a fim de negociar uma solução para seus problemas fiscais com o governo português. Cardoso sugeriu que eles aproveitassem os contratos disponíveis no enclave, onde a oferta de trabalhadores para as plantações era pequena. Na ausência de um plano alternativo, Kiditu aceitou a proposta do governador. Ao fazê-lo, o rei abriu caminho para a primeira migração oficial de trabalhadores de São Salvador sob o domínio colonial[4].
Quando o recrutamento começou no reino e a população do Kongo dependia mais do que nunca de uma boa governança, as reformas administrativas iniciadas pelo novo governo republicano em Portugal estavam, na realidade, solapando a eficácia da dominação colonial em São Salvador. Como parte de um conjunto maior de mudanças administrativas em Angola, a sede da representação portuguesa no Kongo foi transferida para Maquela do Zombo, uma cidade mais a leste que, abrigando uma dúzia de casas comerciais, era mais importante economicamente do que São Salvador. Além disso, em 1912, o experiente administrador Heliodoro de Faria Leal, estimado localmente, foi substituído por Abílio Augusto Pereira Pinto, que era novo no Kongo (Cardoso, 1914). Quando Pinto deixou São Salvador para assumir a nova residência em Maquela, em 1913, a administração local ficou nas mãos do chefe de posto Paulo Midosi Moreira, um homem com pouca instrução formal e que havia iniciado sua carreira na capital do Kongo como escrevente, em 1902[5]. Tratado habitualmente por Senhor Paulo, Moreira era encarregado da cobrança de impostos e do recrutamento de trabalhadores. De acordo com o missionário batista Thomas Lewis, Moreira conhecia bastante bem o país, mas era visto pelo povo como um homem muito duro (Lewis, 1930, p. 263). Em 1914, quando os funcionários portugueses estavam ocupados dividindo as responsabilidades pelas atrocidades cometidas durante o recrutamento de mão de obra no reino, o governador interino do distrito do Congo, Jayme de Moraes, descreveu Moreira como um homem de pouca inteligência, violento e incompetente[6]. A princípio, as reformas administrativas do início do período republicano visavam tornar o domínio colonial mais efetivo (Wheeler & Pélissier, 1971), mas em São Salvador elas deram origem a um despotismo ainda maior, visto que o governo delegava seus assuntos a um escrevente sem qualificação e à força policial local.
É importante destacar que o recrutamento para Cabinda nunca representou uma grande mobilização de trabalhadores. Eles eram sempre recrutados em pequenos grupos, seguindo solicitações específicas das plantações em Cabinda. Entre agosto de 1912 e setembro de 1913, cerca de 600 recrutados deixaram o Kongo para trabalhar no enclave. A maioria deles acabava nas fazendas de Hatton and Cookson, uma firma comercial de Liverpool cuja presença no litoral angolano datava dos anos 1850, ou na Companhia de Cabinda, uma firma mais nova, especializada no cultivo de cacau e café, ou na Roça Lucola, uma plantação de propriedade da Companhia Colonial e Agrícola do Congo Português, que produzia cacau, café e frutos de palmeira (Mattos, 1924). A remuneração foi oficialmente fixada em 100 réis por dia, aos quais os empregadores acrescentavam uma quantia igual em rações, pagas em dinheiro ou em alimentos. Aos domingos, os trabalhadores descansavam e recebiam um suprimento de sabão, tabaco, fósforos e sal[7].
O cônsul britânico em Luanda, Francis Drummond-Hay, considerava que as regulações da força de trabalho eram bastante satisfatórias, justas, e o pagamento é bom[8]. Mas o que os próprios migrantes pensavam a respeito desses contratos? Para eles, as empresas comerciais e as missões religiosas ofereciam a única experiência comparável de trabalho remunerado. Em 1913, um salário de 2.600 réis por mês (excluídas as rações) era significativamente inferior ao que muitas firmas comerciais ao sul do rio Congo pagavam a carregadores e empregados domésticos. Carregadores de borracha na linha Maquela-Noqui ganhavam cerca de 5.000 réis mensais, menos, deve-se registrar, do que haviam ganhado nos anos anteriores. Estabelecimentos em Damba à época também contratavam empregados por salários mensais de até 5.000 réis, enquanto em Ambrizete carregadores ganhavam 7.200 réis e empregados domésticos 3.900 réis[9]. Na realidade, os 100 réis que os trabalhadores ganhavam em Cabinda equivaliam ao pagamento diário recebido pelos varredores de rua em São Salvador, em 1912[10]. Com esse pano de fundo, os homens que iam para Cabinda devem ter considerado que os contratos eram em geral pouco atraentes. Um agente local da Hatton and Cookson comentou que os migrantes que trabalhavam na sua propriedade procuravam suplementar seus ganhos economizando na comida.
No momento, os trabalhadores que estão aqui, incluindo os de São Salvador, estão vivendo de mangas, que são abundantes aqui, e com o dinheiro para suas rações compram artigos que lhes agradam para levar para casa ao término do seu contrato[11].
Apenas economizando na comida os trabalhadores migrantes eram capazes de ganhar uma remuneração comparável aos salários que teriam recebido anteriormente no Kongo, trabalhando no comércio.
Salários pouco atraentes, a longa ausência de casa dos trabalhadores do sexo masculino e a perspectiva de trabalho duro nas plantações eram fatores explicativos da falta de entusiasmo generalizada pelo esquema de migração para Cabinda. Como a oferta de voluntários era pequena, os recrutadores começaram a empregar meios extralegais para contratar trabalhadores. Em agosto de 1912, o governador Cardoso enviou um pedido de 50 trabalhadores para São Salvador em nome da Hatton and Cookson. Em um mês, 51 homens foram alistados. Ainda nesse mês de agosto, a Companhia de Cabinda pediu ao governo para recrutar 25 trabalhadores para suas plantações. No início de outubro, essa demanda também foi atendida[12]. Embora a correspondência oficial de São Salvador não tenha dado nenhuma pista de problemas ou irregularidades, testemunhos diretos dos missionários batistas sugeriam que a força desempenhou um papel significativo no recrutamento desses trabalhadores. Em carta dirigida ao cônsul britânico, o reverendo George Thomas, da Sociedade Missionária Batista, criticou o uso de tropas pelo governo com o propósito do recrutamento e comparou o processo em curso a uma espécie de alistamento[13]. Thomas testemunhou a chegada em São Salvador dos primeiros recrutas para a Hatton and Cookson, alguns dos quais ele conhecia pessoalmente por serem membros da igreja na região de Lungezi, ao norte da capital do Kongo. Ele suspeitava que o administrador português em São Salvador, Abílio Pinto, havia encomendado trabalhadores aos chefes, uma vez que percebia que muitos homens tinham sido obrigados a partir. Nenhum dos recrutados realmente sabia por qual companhia tinha sido contratado; havia apenas rumores de que era a casa inglesa, o que indicava como esse alistamento estava pouco de acordo com as regulamentações oficiais.
Pinto revelou mais tarde que, quando os primeiros 50 trabalhadores foram reunidos em São Salvador, um missionário católico aconselhou-o a não mencionar que eles estão indo para Cabinda, porque isso podia provocar uma revolta[14]. O religioso tinha razão, dado que os camponeses do Kongo recebiam notícias desanimadoras de seus amigos e parentes em Cabinda. Em outubro de 1912, um grupo de migrantes de Lungezi, membros da Igreja Batista, agora trabalhando para a Hatton and Cookson, escreveram para casa para informar a seus chefes e à comunidade batista sobre suas experiências no enclave. Duas de suas cartas foram encaminhadas para o Ministério das Relações Exteriores britânico para desencadear uma campanha humanitária contra a exploração de trabalhadores no Congo português. Um dos autores era António Zakwadia, que havia trabalhado como professor de uma escola da missão batista na região de Lungezi, de 1907 a 1911[15]. Na primeira carta, endereçada à igreja em São Salvador, os homens informavam que tinham chegado em segurança em Cabinda e que sua tarefa principal era cortar árvores para fazer lenha, o que não era motivo de queixa. Porém, eles também afirmavam que tinham de trabalhar aos domingos, o que não era legal, e que eram frequentemente espancados pelo chefe inglês, Mr. Royle, o gerente da empresa[16]. A segunda carta foi dirigida aos chefes Garcia Nosso, de Lungezi, Álvaro Sengele, de Kunku e Afonso Mfutila Mebidikwa, de Mwingu[17]. Essa carta levantava três pontos importantes. O primeiro era uma firme condenação do cruel tratamento que os trabalhadores recebiam das mãos do homem branco (Royle) e seu vigia africano, e sobre as reduzidas quantias diárias que os trabalhadores recebiam para comprar comida[18]. O segundo ponto que os homens apontaram é que eles estavam em Cabinda porque seus chefes os haviam estimulado a ir para lá, acrescentando que eles não teriam ido se soubessem das condições nas quais se encontravam agora. Em terceiro lugar, os autores acreditavam piamente que o rei do Kongo tinha condições de fazer alguma coisa em relação às suas dificuldades, visto que eles pediram aos seus chefes para informar ao rei e ao residente português em São Salvador. Pelos seus títulos – Noso, Sengele e Mfutila – fica claro que esses chefes eram dirigentes tradicionalmente investidos, cuja autoridade espiritual derivava de sua conexão com a capital do Kongo. Essa carta, portanto, parece sugerir que o próprio rei convencera os chefes a enviar voluntários para Cabinda.
Embora a publicidade negativa de Cabinda tenha chegado ao reino, o recrutamento de trabalhadores continuou no Kongo sob os olhares atentos dos missionários batistas. Paulo Moreira, à época ainda secretário, normalmente se encarregava de escoltar os recrutados de suas aldeias para São Salvador e em seguida de lá para Noqui, de onde eram enviados para Cabinda[19]. Os missionários monitoravam de perto os movimentos de Moreira e reportavam suas observações para o cônsul em Luanda. De acordo com eles, vários recrutas disseram que tinham sido obrigados ao serviço, e alguns, desesperados, afirmaram que estavam indo para a morte. Os missionários também afirmavam que os plantadores em Cabinda pagavam uma comissão ao secretário Moreira e ao residente Pinto por cada passaporte que emitiam. A Sociedade Missionária Batista também recebera informações alarmantes de que os agentes do governo estavam cometendo atrocidades, e que possivelmente Moreira estava envolvido[20]. Quando uma cópia do relatório da Sociedade chegou às mãos do governador Cardoso, ele respondeu com ceticismo. Na sua opinião, era improvável que o residente e seu secretário recebessem gratificações especiais por seus serviços. As companhias de Cabinda sempre enviavam seus pedidos de trabalhadores para o governo distrital e nunca lidaram diretamente com os administradores locais que os forneciam. Segundo Cardoso, os missionários haviam dado demasiado crédito às palavras de seus informantes africanos, atribuindo a aparência de investigação rigorosa a uma troca de impressões sobre ninharias. Além do mais, ele considerava Moreira um funcionário decente, embora capaz de usar de violência quando as circunstâncias o exigiam[21].
Em pouco tempo, contudo, os protestos oficiais britânicos forçaram a administração em São Salvador a explicar seus métodos de recrutamento. O primeiro relatório do governo foi divulgado no início de uma campanha de recrutamento no planalto de Kanda, a leste de São Salvador, para onde Moreira fora enviado em dezembro de 1912 a fim de arregimentar trabalhadores para a Roça Lucola (Leal, 1915, pp. 27-28). Dado que a região de Kanda contava com diversas missões da Sociedade Missionária Batista, alguns evangelistas podiam testemunhar de perto o recrutamento em curso para Cabinda. O residente Abílio Pinto lançou mão de provas fornecidas pela Igreja Batista bem como por Moreira para elaborar um relatório que acabou chegando à sede da administração colonial em Luanda[22]. Pinto documentou a campanha de recrutamento do governo em Kanda com detalhes impressionantes, revelando como os agentes coloniais rotineiramente empregavam violência para extrair recursos e mão de obra. Seu relatório mostrava como o recrutamento de trabalhadores estava intrinsecamente ligado à cobrança do imposto de palhota. Para estimular o alistamento, em 1913 o montante do imposto foi aumentado para valores acima de 1.500 réis, um claro afastamento da flexibilidade anterior do governo com relação à tributação[23]. Os policiais que atuavam como coletores normalmente ofereciam duas alternativas aos chefes: ou eles faziam com que seus súditos pagassem os impostos, ou poderiam tentar reunir voluntários para o trabalho migrante. Os chefes que decidiram fornecer trabalhadores só conseguiam recrutar habitualmente um ou dois homens por aldeia em sua área. Portanto, os agentes do governo tinham que visitar quantas aldeias fossem necessárias para reunir um número estipulado de recrutas. A violência desempenhava um papel crucial em suas negociações, especialmente quando os chefes relutavam em cooperar. Embora alguns homens fossem voluntariamente para Cabinda, ou fossem pressionados por seus parentes mais velhos a ir, muitos trabalhadores eram forçados a se alistar, ao verem seus parentes do sexo feminino sendo estupradas e seus chefes espancados por agentes do recrutamento. Era evidente que os soldados e os policiais africanos cometiam o grosso da violência, mas Paulo Moreira normalmente estava por perto e havia fortes rumores de que ele tomava parte nas atrocidades.
O residente Pinto admitiu francamente que costumava levar prisioneiros para fazer com que os chefes cumprissem com o que ele chamou de as regras. Ao mesmo tempo, absolveu o secretário Moreira de todas as acusações de crime. No entanto, o governador-geral de Angola, Norton de Matos, não ficou convencido pela defesa moral feita por Pinto da coerção governamental. Ele considerou que os métodos usados pela administração em São Salvador não eram compatíveis com a legislação trabalhista republicana de 1911, nem com a sua própria circular de dezembro de 1912, que determinava que os funcionários do governo não agissem como agentes de recrutamento. Em sua opinião, a lei reforçava claramente que a iniciativa do contrato de trabalho tinha de vir dos próprios angolanos. Não é com a violência da pior espécie, mas sim por meio de recompensas persuasivas e de condições de trabalho adequadas que será estabelecido um fluxo de trabalhadores das aldeias para os centros industriais e agrícolas[24]. O governador distrital Cardoso, em contrapartida, protegia seus subordinados. Em sua opinião, os meios violentos [são] indispensáveis para implementar o regime de trabalho em regiões onde até hoje as pessoas viviam indolentemente[25]. Essas visões díspares apontam para uma trágica contradição no sistema de dominação colonial: o governo republicano queria promover o trabalho assalariado onde não havia mercado de trabalho livre; sem uma supervisão adequada do governo, os angolanos sofriam as consequências das políticas implementadas.
A Revolta de Tulante Álvaro Buta
O fato de a violência governamental não ter sido imposta por agentes externos – de Portugal ou de outras partes de Angola – mas sim perpetrada por indivíduos de dentro da própria comunidade constitui o drama subjacente à história da exploração colonial no início do século XX no Kongo. Em dezembro de 1913, os chefes do Kongo responderam à inesperada brutalidade da dominação colonial promovendo uma rebelião destinada a limpar a comunidade dos malfeitores, incluindo o rei Manuel Kiditu, que foi considerado como o principal responsável pela perda repentina da paz no reino. A revolta contra São Salvador representou, sobretudo, uma tentativa para afastar o rei e alguns dos seus colaboradores mais próximos, uma vez que os chefes rebeldes não reconheciam os poucos funcionários brancos que serviam na capital como alvos importantes. O levante revelou, de forma inequívoca, alguns dos aspectos fundamentais de um típico movimento de renovação do Kongo (Janzen, 2013): os chefes explicaram a desordem e a injustiça como resultados da ganância, da inveja e da maldade existentes no interior de seu próprio grupo. Acusações explícitas de feitiçaria (kindoki) estavam ausentes do que ficou registrado do discurso dos insurgentes, mas muito provavelmente eles viam a destruição social forjada pela tributação e pelo recrutamento da força de trabalho como obra de feiticeiros, pessoas que lançavam mão de poderes ocultos com objetivos egoístas. Na verdade, ficou evidente para a maioria dos chefes que a violência do colonialismo fora provocada pelo egoísmo dos agentes locais do governo, razão pela qual o seu porta-voz, Tulante Álvaro Buta, enfatizou a questão da mudança política em termos de regeneração moral. Sua prédica após o ataque a São Salvador revelou uma notável semelhança com um ritual de cura coletiva do século XVII, conhecido como mbumba kindonga, no qual, segundo John Thornton (1998), ciúmes antigos eram arejados e uma raiva silenciosa liberada, antes das dissensões existentes serem enterradas e de a comunidade poder se recuperar (p. 55). Mas nessa ocasião, os rebeldes do Kongo fizeram mais do que apenas agitar o ar. A purificação também consistiu na expulsão de malfeitores do reino, para que a justiça e a harmonia pudessem ser restauradas.
A grande revolta de 1913 veio na esteira de uma tentativa oficial dos portugueses para fazer com que o reino do Kongo se tornasse de novo um importante centro fornecedor de mão de obra para São Tomé e Príncipe, quatro séculos depois de escravos kongo terem sido os primeiros povoadores do arquipélago produtor de açúcar no golfo da Guiné. De modo geral, o Kongo ficou fora das redes de escravização da África Central que, desde a década de 1870, abasteceram essas pequenas, mas férteis ilhas com a maioria dos trabalhadores para as suas plantações de cacau em expansão (Clarence-Smith, 1990, 1993). Em 1913, no entanto, o governo português estendeu oficialmente o recrutamento para as ilhas ao distrito angolano do Congo, na expectativa de diminuir sua dependência da nova escravização que assegurava o fornecimento de mão de obra de outras partes de Angola e que tinha colocado o regime colonial sob escrutínio britânico (Grant, 2005). Embora esse recrutamento planejado nunca tenha se materializado, as negociações fracassadas entre a administração colonial, o rei, e cerca de 50 chefes do Kongo a respeito dos trabalhadores migrantes em outubro de 1913 constituíram uma etapa crucial na preparação para a revolta em dezembro.
Em setembro de 1913, Portugal designou pela primeira vez o distrito do Congo como uma área de recrutamento na qual os agentes oficialmente reconhecidos receberam autorização para arregimentar até 1.500 trabalhadores para as plantações na ilha de Príncipe até o final do ano. Tratava-se de um número considerável, levando-se em conta que durante o ano de 1913, um total de cerca de mil serviçais tinham sido enviados de Angola para São Tomé e Príncipe[26]. O distrito foi escolhido para abastecer a ilha menor, Príncipe, porque os funcionários consideravam a região do Kongo uma área de baixo risco para a disseminação da doença do sono, que estava afetando duramente outras partes de Angola, de onde os migrantes tinham espalhado a doença por toda a ilha de São Tomé (Diniz, 1914, pp. 87-88). Mas o fato de o rei ter sido sensível às demandas de Cabinda por mão de obra sem dúvida também influenciou a decisão de Portugal de buscar trabalhadores das plantações no Kongo.
Em meados de outubro, um agente português chamado Godinho chegou a São Salvador com o objetivo de arregimentar tantos trabalhadores quantos a lei permitisse. Em nome do chefe de posto Paulo Moreira, Manuel Kiditu convocou cerca de 50 chefes de todo o reino, que, no ano anterior, haviam sido reconhecidos oficialmente como primeiro chefe (mfumu antete) para auxiliar o governo na cobrança de impostos e na mobilização da força de trabalho[27]. Porém, depois que os termos do contrato foram explicados a eles, os chefes recusaram-se a cooperar. Através de seus porta-vozes, Afonso Kalanfwa e Tulante Álvaro Buta – o primeiro, um protestante da região de Nkanda, e o outro um católico de Madimba –, os chefes deixaram claro que a recusa nada tinha a ver com os termos do contrato. E nem que, é preciso acrescentar, eles tinham sido influenciados pela campanha humanitária lançada contra o regime de trabalho implantado por Portugal em São Tomé e Príncipe. Como o missionário George Claridge explicou mais tarde:
a solicitação de trabalhadores para [São Tomé e Príncipe] não incutiu nos chefes esse medo que nós temos [...] associado a ela. Eles não conheciam o significado do trabalho em [São Tomé] como nós o conhecemos. Quando disseram não, assim o fizeram à luz de sua experiência imediata, sobretudo daquela relacionada a Cabinda[28].
No espaço de poucos anos, o governo colonial tinha levado os chefes do Kongo e suas comunidades aos limites de sua resistência. Chegou-se a um ponto em que os camponeses tiveram de vender seus pertences básicos para poderem pagar o imposto de palhota. Para escapar a essa privação muitas famílias deixaram de atender às suas obrigações fiscais ou decidiam se mudar para o Congo Belga[29]. Nessas circunstâncias, os chefes resolveram, praticamente por unanimidade, opor-se às demandas posteriores de força de trabalho vindas do governo.
Quando a administração colonial tentou retomar o recrutamento para Cabinda em novembro de 1913, a recusa se transformou em revolta. Moreira recebera uma ordem para alistar 75 trabalhadores para uma fazenda portuguesa no enclave. Só conseguiu trazer 39 para São Salvador, pois 40 homens escaparam no caminho., em manifesto desafio à autoridade colonial. Ao fazer a mediação entre o chefe de posto e os chefes, o rei contava com Álvaro Buta para fornecer trabalhadores, serviço que ele já havia prestado antes. Dessa vez, porém, Buta recusou-se e ao invés de colaborar com Kiditu despachou mensageiros para orientar os chefes a preparar um ataque contra São Salvador. Com milhares de rebeldes armados agrupados ao sul da capital no início de dezembro, Moreira fez uma última e desesperada tentativa para restaurar a paz, mas não foi bem-sucedido. Na manhã do dia 10 de dezembro, Buta e seus aliados lançaram o primeiro ataque em grande escala à cidade sagrada do Kongo em mais de meio século. Embora não tenham chegado à sede da administração, eles saquearam e queimaram os arredores da cidade habitados por católicos, incluindo o bairro real. As motivações por detrás do levante e as razões de Buta para visar apenas uma parte da cidade foram tornadas públicas nos dias que se seguiram[30].
Em 11 de dezembro, houve um encontro em São Salvador entre os rebeldes e o administrador local, Paulo Moreira, que teve prosseguimento no dia seguinte em Zamba, algumas milhas ao sul da capital. Aproximadamente mil homens vieram a São Salvador naquela manhã, muitos armados com espingardas, os rostos cobertos com pinturas de guerra; durante o dia, juntaram-se-lhes mais mil homens. Os rebeldes eram liderados por seu porta-voz, Tulante Álvaro Buta, ladeado durante toda a conversação por Afonso Nkongolo, seu lugar-tenente militar, e por Afonso Kalanfwa, representante oficial da princesa Noso, de Mbanza Mputu, uma das vilas mais importantes no reino. Delegações das missões batistas e católicas também estavam presentes. Um dos padres portugueses, Manuel Rebello, tomou notas da reunião com a ajuda de um notável intérprete, António Moreira Cardoso Nensuka, filho do falecido Álvaro XIV, que trabalhava como amanuense na administração colonial[31]. Os missionários batistas tinham sido convidados por solicitação de Buta para servirem como observadores imparciais. Embora Buta fosse católico durante toda a vida, perdera a confiança nos padres ao longo dos acontecimentos que levaram à revolta. O catequista Miguel Nekaka fez a tradução para os missionários ingleses[32].
Buta dirigiu seu discurso especificamente para os missionários, iniciando sua fala com uma repreensão moral:
Viemos perante vocês, professores da Missão Católica e da Sociedade Missionária Batista, porque sabemos que vocês estão aqui para o nosso bem. Vocês nos ensinam a não matar, a não sermos gananciosos, a não cometermos adultério, a não roubar Alguns de nós mesmo alguns de nós que não sabem ler nem escrever tentam preservar o que vocês ensinam, mas alguns nos envergonham e é sobre isso que vou falar agora. Eles assaltam, eles destroem, eles obrigam nossas mulheres a cometer adultério com eles, e são essas coisas que queremos falar perante os padres e os missionários ingleses.
Essa declaração introdutória expressava o valor que as elites do Kongo atribuíam aos ensinamentos cristãos, tanto em termos morais quanto em termos do aprendizado prático, ele mesmo um símbolo de autoridade moral. Buta enfatizava, assim, que a exploração do Kongo nas mãos dos agentes coloniais – aos quais designaria pelo nome – constituía um ataque à própria moralidade que a cristandade representava no reino. Aqueles que nos envergonham eram os policiais, os mensageiros da corte e os funcionários alistados localmente, que tinham auxiliado o rei e o administrador – sempre referido como Senhor Paulo – na extorsão de impostos e mão de obra. Enquanto isso, os missionários despontavam como os guardiões dos padrões morais cristãos pelos quais os chefes julgavam o comportamento amoral de alguns membros da comunidade.
Para indicar o início da corrupção moral no reino, Buta chamou atenção para os últimos reis Kivuzi e Água Rosada, argumentando que sob o governo de Henrique II (1842-1857), Pedro V (1860-1891) e Álvaro XIV (1891-1896) as pessoas eram governadas por amor. Mas depois que Henrique Teyekenge havia chegado ao poder em 1896, as relações entre São Salvador e os distritos mais distantes tornaram-se tensas. Ao contrário dos seus antecessores, Teyekenge era um homem jovem no momento de sua indicação e tendeu a governar de forma arbitrária, abusando da aliança entre o Kongo e o governo português em seu próprio benefício. Seu sucessor, Dom Pedro Mbemba (1901-1910) foi associado especificamente à introdução do imposto de palhota. No início, a maioria dos chefes resistiu aos impostos coloniais, mas eles acabaram sendo convencidos de que era bom e justo pagá-los. O poderio militar do governo os havia influenciado naquela altura, é claro, mas como nessa ocasião tinham a faca na mão, exigiram a redução do imposto de palhota ao seu nível original.
Buta lembrou que após a morte de Mbemba, os Kongo queriam um rei que governasse o país para a satisfação das pessoas. O rei tinha de ser um bom negociador com o governo português, alguém que fosse capaz de ler e escrever e que representasse fielmente os desejos de seus súditos. Com esse fim, eles colocaram no trono Manuel Kiditu, que tinha sido educado na missão católica. Entretanto, sob o governo de Kiditu as condições no reino e a relação do Kongo com Portugal pioraram, sobretudo depois que o imposto de palhota se ligou às campanhas coloniais de mobilização de força de trabalho. No segundo dia de sua prédica, Buta relacionou esses acontecimentos diretamente às mudanças que tiveram lugar na administração colonial por volta de 1912. O residente que deixava o posto, Faria Leal, era conhecido e respeitado localmente como um lemba nsi, alguém que mantém a paz na terra. Já sob seu sucessor, começou o recrutamento de trabalhadores e as pessoas não bebiam água nem comiam mais em paz.
Para fundamentar as suas queixas contra o rei e outros funcionários corruptos na corte real, Buta narrou com detalhes meticulosos a história do recrutamento de trabalhadores em São Salvador em 1912 e 1913. Em primeiro lugar, lembrou a decepção que ele e outros sentiram quando Kiditu retornou de suas negociações com o governador distrital em Cabinda, em meados de 1912, com nada além de um pedido de trabalhadores, coerentemente chamados de carregadores, em referência ao tipo principal de trabalho realizado na economia colonial. Como a maioria dos chefes com influência no reino, Buta costumava fornecer carregadores para os empregadores locais, bem como homens para Cabinda quando Kiditu lhe solicitava. Lealdade ao rei, pequenas recompensas materiais e o medo de sanções levavam chefes como Buta a colaborar com o governo. Em pouco tempo, porém, os efeitos desastrosos do contrato de trabalho imposto pelo governo tornaram-se evidentes: os chefes de aldeia eram tomados como reféns enquanto os policiais dedicavam-se à extorsão e ao estupro; trabalhadores eram acorrentados e espancados; os salários não eram pagos no tempo devido ou não integralmente; e havia incerteza sobre o retorno dos migrantes do enclave de Cabinda.
Com o passar do tempo, o desapontamento de Buta em relação às políticas do rei tornou-se mais pessoal, na medida em que o comportamento do próprio Kiditu era cada vez mais errático. Por exemplo, quando Godinho veio a São Salvador, em outubro de 1913, para contratar 1.500 trabalhadores para São Tomé e Príncipe, o próprio rei instruiu seus chefes para não atenderem às demandas do homem branco – que não era lembrado pelo nome – e manterem-se firmes (nutoma kanga mpondaku, apertem seus cintos), que foi o que fizeram. Um mês mais tarde, contudo, o rei enviou mensageiros a Buta informando-lhe que ele seria preso e deportado para Ponta – palavra kongo para designar um ponto de comércio no litoral –, caso se recusasse a fornecer mais trabalhadores para Cabinda. De acordo com um relatório português, Buta disse a esses mensageiros que apenas porque eram seus parentes, não tiveram suas cabeças cortadas[33]. Outros registros oficiais indicam que, por essa época, o governo havia reforçado seus postos militares na região de Madimba e autorizado Paulo Moreira a deter Álvaro Buta por não obedecer às ordens coloniais[34]. Ciente da ameaça iminente, Buta escapou por pouco de ser preso em Kinganga (Belém), sede de uma missão católica em Madimba, onde achava que estariam, ele e os outros chefes, em segurança. Porém, um dos seus seguidores foi morto na briga que então ocorreu e foi isso, segundo o missionário Claridge, que realmente precipitou o conflito[35]. A perda de um dos seus homens nas mãos de soldados de São Salvador acabou com o último resquício de confiança que Buta ainda tinha na integridade de seu parente, o rei. Com o rompimento das relações políticas normais com o rei e sua corte, Buta tomou a decisão de partir para a ação militar.
Numa declaração feita posteriormente, Kiditu transferiu a responsabilidade por essa crise política para Paulo Midosi Moreira, retratando-se sobretudo como um mediador entre o governo e os chefes. Kiditu afirmou que sabia que a Sociedade Missionária Batista estava investigando o seu envolvimento no recrutamento então em curso e que Buta tinha ameaçado matá-lo se ele e Midosi continuassem a lhe exigir trabalhadores. Assim, quando Midosi informou Kiditu sobre seus planos para capturar Buta, o rei o advertiu de que isso provocaria uma guerra, o que veio a acontecer posteriormente. Ademais, depois que Buta anunciou suas intenções de atacar São Salvador, Kiditu e muitos outros queriam que o missionário batista Joseph Sidney Bowskill negociasse uma trégua entre o governo e o exército rebelde de Buta, o que foi terminantemente recusado por Midosi[36]. Aos olhos de muitos, porém, Kiditu não era um mediador, mas um ator central na política do Kongo e em última instância o responsável pela instabilidade existente no reino.
No entardecer de 11 de dezembro, Buta explicou seus motivos para atacar São Salvador, e por que seu grupo rebelde deixara incólume o odiado chefe de posto Paulo Moreira. Enquanto Buta e seus aliados reuniam milhares de guerreiros a algumas milhas ao sul da capital, Moreira sinalizou, por intermédio dos padres, que queria evitar um confronto em grande escala com os rebeldes, que excediam em muito o número de soldados coloniais à sua disposição. Buta, contudo, já havia perdido a fé nos padres, visto que eles haviam sido incapazes de protegê-lo anteriormente. Ele respondeu que devia ir para o Kongo e ver o que estava acontecendo. Nós colocamos o Rei no trono para proteger o povo e como ele não faz isso, então devo ir lá e combatê-lo, ao mesmo tempo em que se mostrava disposto a deixar Moreira e os padres fora do seu embate com Kiditu, se estes assim o desejassem. Assim, Buta assegurou às delegações que vieram posteriormente da capital que seu exército teria como alvo apenas Kiditu e seus seguidores. O fato de o chefe de posto ter sido tão prontamente descartado como um alvo irrelevante na insurreição demonstra o quanto os chefes do Kongo julgavam seu rei – e não Portugal – responsável pelas consequências nefastas da dominação colonial.
No segundo dia da predicação, Buta apresentou as queixas e demandas específicas da sua coalizão rebelde. O primeiro homem acusado foi o secretário e conselheiro do rei, Manuel Lopes de Almeida, 50 anos de idade, descrito por Buta para os missionários como alguém que sabia ler e escrever, mas que não respeita o que lhe foi ensinado. Almeida foi acusado de abuso físico, extorsão, sequestro e outros crimes cometidos durante a cobrança de impostos. Devido a seus crimes, Almeida teve de deixar o país para ser julgado pelo governador português em Cabinda; caso contrário seria assassinado. O segundo principal acusado foi Afonso Kapitau, um velho conselheiro real e pai do igualmente odiado funcionário colonial Ambrósio Divengele. Na avaliação de Buta, que expressou especial decepção em relação à falta de orientação do ancião, ele era o homem que havia arruinado o Rei [...]. Ao invés de orientá-lo [o rei] no bom caminho, ele o enganou. Kapitau parecia representar o clã de Buta no governo do Kongo, pois Buta disse que ele tem comido o meu trono (umdidie kiandu), expressão que significa a destruição da honra de alguém. Ele, que estava escondido, teve três dias para deixar o país. Sob gritos de aprovação, Buta também acusou um dos conselheiros protestantes, Pedro Talanga Nefwane, de comportamento desonesto. Embora seus crimes não tenham sido especificados, Talanga foi descrito como uma pessoa cruel (kimpumbulu), que carrega intestinos de porco no bolso, expressão kongo que denota avareza e ganância, ou seja, feitiçaria. Talanga teve de deixar sua função pública, mas foi permitido que retornasse para sua casa no interior do país.
O filho de Kapitau, Ambrósio Augusto Divengele, era o melhor exemplo da crise moral que afetara o reino nos últimos anos. Natural de São Salvador, Divengele cresceu sob a proteção de padres portugueses e tornou-se motivo de orgulho da missão. Entrou na escola católica em 1890, quando tinha sete anos e ainda estava com os padres em 1899, época em que aprendeu a ler, a escrever e a fazer contas básicas. Por ocasião do primeiro aniversário de sua igreja, em 1905, Divengele escreveu que os missionários ensinam as regras do bem viver, não ensinam a soberba nem os ricos a andar em soberba, citando o versículo 1 Timóteo 6:17, Palavra final de Paulo aos ricos[37]. Quando escreveu essas palavras, estava trabalhando como pedreiro em São Salvador, profissão respeitada no Kongo colonial. Mais tarde, tornou-se amanuense na administração colonial, ajudando o governo na compilação de registros fiscais. Ele foi acusado de extorsão, diversos atos de violência e estupro. Casos como esse fornecem uma poderosa lembrança de como a militarização do poder no início da dominação colonial perturbou as relações comunitárias tradicionais e as ideias correspondentes de virtude cívica.
O grande nó (ejita diampwena) no relato de Buta diz respeito à derrubada de Kiditu. O rei, que estava escondido na missão católica durante a prédica, foi acusado de fraqueza política, traição e ganância. Conforme a explanação de Buta, desde quando assumiu o poder Kiditu nada fizera pelo seu povo; tudo que fez foi em benefício do administrador. Para ilustrar esse ponto, Buta explicou que quando os chefes forneciam trabalhadores por solicitação de São Salvador, eles eram enviados em nome do Rei, mas quando eles vinham não era o Rei quem os queria, mas o Sr. Paulo. Essa afirmação é reveladora de como o recrutamento de força de trabalho era um negócio obscuro, visto que as demandas coloniais por trabalhadores eram atendidas não através de contratos transparentes, mas da capacidade do rei de controlar o fornecimento com base na coerção, na lealdade e nas recompensas materiais. O comportamento errático de Kiditu durante seus dois anos no governo sugere que o próprio rei ficou dividido entre seu papel como representante do povo e sua posição de intermediário no sistema colonial. Por conseguinte, Buta reprovava-o diretamente por abastecer o governo com trabalhadores para São Tomé e Príncipe, depois de ter dito primeiro para os chefes se manterem firmes em relação às novas demandas portuguesas por mão de obra. Porém, a mais enérgica condenação do comportamento de Kiditu referiu-se à sua cumplicidade com a violência dos agentes locais do governo, que atuavam em nome do rei.
Conclusão
A revolta do Kongo nos traz de volta à eleição de Manuel Martins Kiditu em 1911. Seu reinado foi condicionado por um conjunto de regras que combinou um olhar tradicional em relação às obrigações de proteção do rei para com seus súditos com um reconhecimento moderno de que ele precisava ser um negociador efetivo com o mandatário colonial do Kongo (Vos, 2015, pp. 101-106). Pode-se argumentar que o governo de Kiditu foi problemático desde o início, visto que se esperava que ele viesse a proteger a comunidade do Kongo de forças políticas muito acima do seu controle. Esse argumento, porém, ignora o significado da participação dos africanos no sistema colonial. Em primeiro lugar, o caso do Kongo dá substância à afirmação de Achille Mbembe de que as estruturas emergentes do Estado colonial permitiram que alguns africanos poderosos atuassem sob seus impulsos obscuros de modo a humilhar e explorar os destituídos de poder (2001, p. 14). O nível de envolvimento de Kiditu na violência patrocinada pelo Estado pode ser um assunto controverso, mas de uma perspectiva contemporânea do Kongo essa questão é irrelevante. Kiditu foi colocado no trono para amortecer o impacto da tributação colonial, promovendo o bem-estar econômico e sustando a corrupção que havia manchado o governo de seus antecessores, mas ele falhou em todos os sentidos. No seu reinado, São Salvador entrou em um período de declínio econômico e a dominação colonial tornou-se mais abusiva, na medida em que a cobrança de impostos foi relacionada ao recrutamento de trabalhadores migrantes. Ademais, Kiditu demonstrou ser tão desonesto quanto os reis que o antecederam.
A instalação de Kiditu no trono em 1911 e o seu derrube em 1913 revelaram ainda um outro lado da tradição monárquica do Kongo. A despeito de sua cooptação pelo império colonial português, o reino continuou a existir como comunidade política, baseada em noções específicas de respeitabilidade e centrada no rei como o mais elevado poder espiritual na terra. O rei era uma fonte e um símbolo de harmonia social, embora também se esperasse que ele viesse a usar suas habilidades seculares, seu conhecimento do modo de ser do homem branco, para negociar de modo eficaz com seus parceiros europeus. Em 1913, uma crise envolvendo a organização dessa comunidade culminou em revolta. Essa crise foi moral em mais de um sentido. O abuso do poder político por parte do rei e de seus associados representou não apenas uma transgressão das regras de legitimidade política no reino, mas também uma violação dos códigos de conduta social adequada no Kongo. De fato, do ponto de vista local, o social e o político estavam conectados, na medida em que uma turbulência política era normalmente explicada como resultante da malevolência de determinados indivíduos na comunidade. Restaurar a ordem no reino era algo mais do que substituir o rei e renegociar o domínio colonial com Portugal; significava, fundamentalmente, restabelecer a paz na comunidade.
Finalmente, deve ser enfatizado que o levante do Kongo em 1913 não ocorreu simplesmente porque o Estado colonial tornou-se ainda mais invasivo e opressor, como se a resistência fosse o resultado inevitável do aumento da exploração. O impacto político da dominação colonial na sociedade do Kongo foi moldado pela economia moral e pelas contingências locais. Uma microanálise das origens da revolta revela a importância das relações interpessoais na política local no início do período colonial. Rebeldes e acusados relacionavam-se muitas vezes através do parentesco, dos laços da igreja e de outras redes sociais. Por conseguinte, é difícil que emoções humanas que afetam a vida da comunidade não tenham estimulado os rebeldes quase tanto quanto os princípios políticos. O relato da crise feito por Álvaro Buta revela, sobretudo, que as experiências de traição e engano não só tenham definido as memórias pós-coloniais da dominação europeia na África, como Johannes Fabian (1996) sugeriu, mas tenham sido também emoções vividas na época e fortes motivadores da ação política. Será que a revolta poderia ter sido evitada, como sugeriu uma testemunha, se Kiditu tivesse simplesmente pedido perdão a Buta por suas ações?[38].
<>Tradução de Sérgio Lamarão
Referências
Barnes, S. T. (1986). Patrons and power. Creating a political community in metropolitan Lagos. Bloomington: Indiana University Press. [ Links ]
Bayart, J.-F. (1993). The state in Africa. The politics of the belly. Londres: Longman. [ Links ]
Berman, B. J. (1998). Ethnicity, patronage and the African state: The politics of uncivil nationalism. African Affairs, 97(388), 305-341. [ Links ]
Bowskill, J. S. (1914). São Salvador, Portuguese Congo. Mr. Bowskills letters on the native war of 1913-4 and other documents. Londres: Carey Press. [ Links ]
Cardoso, J. M. S. (1914). No Congo Português. Viagem ao Bembe e Damba, considerações relacionadas, Setembro a Outubro de 1912. Luanda: Imprensa Nacional de Angola. [ Links ]
Clarence-Smith, W. G. (1983). Capital accumulation and class formation in Angola. In D. Birmingham, & P. M. Martin (Eds.), History of Central Africa. Vol. 2 (pp. 163-199). Londres: Longman. [ Links ]
Clarence-Smith, W. G. (1990). Emigration from Western Africa, 1807-1940. Itinerario, 14(1), 45-60. [ Links ]
Clarence-Smith, W. G. (1993). Cocoa plantations and coerced labor in the Gulf of Guinea, 1870-1914. In M. A. Klein (Ed.), Breaking the chains: Slavery, bondage, and emancipation in modern Africa and Asia (pp. 150-170). Madison: University of Wisconsin Press. [ Links ]
Cooper, F. (2002). Africa since 1940: The past of the present. Nova York: Cambridge University Press. [ Links ]
Coquery-Vidrovitch, C. (1969). Recherches sur un mode de production africain. La Pensée, 144, pp. 61-78. [ Links ]
Coquery-Vidrovitch, C., & Lovejoy, P. E. (1985). The workers of trade in precolonial Africa. In C. Coquery-Vidrovitch, & P. E. Lovejoy (Eds.), The workers of African trade (pp. 9-24). Beverly Hills: Sage. [ Links ]
Diniz, J. O. F. (1914). Negócios Indígenas. Relatório do ano de 1913. Luanda: Imprensa Nacional de Angola. [ Links ]
Fabian, J. (1996). Remembering the present. Painting and popular history in Zaire. Berkeley: University of California Press. [ Links ]
Glassman, J. (1995). Feasts and riot. Revelry, rebellion, and popular consciousness on the Swahili Coast, 1856-1888. Portsmouth: Heinemann. [ Links ]
Grant, K. (2005). A civilised savagery. Britain and the new slaveries in Africa, 1884-1926. Nova York: Routledge. [ Links ]
Janzen, J. M. (2013). Renewal and reinterpretation in Kongo religion. In S. Cooksey, H. Vanhee, & R. Poynor (Eds.), Kongo across the waters (pp. 132-142). Gainesville: University Press of Florida. [ Links ]
Leal, J. H. F. (1915). Memórias dÁfrica. Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, 33, pp. 15-30. [ Links ]
Lewis, T. (1930). These seventy years. An autobiography. Londres: Carey Press. [ Links ]
Lonsdale, J. (1992). The moral economy of Mau Mau: The problem. In B. Berman, & J. Lonsdale (Eds.), Unhappy valley. Conflict in Kenya and Africa: Vol. 2. Violence and ethnicity (pp. 265-314). Oxford: James Currey. [ Links ]
Mamdani, M. (1996). Citizen and subject. Contemporary Africa and the legacy of late colonialism. Princeton: Princeton University Press. [ Links ]
Mattos, J. A. (1924). O Congo Português e as suas riquezas. Lisboa: Simões, Marques, Santos & Cia. [ Links ]
Mbembe, A. (2001). On the postcolony. Berkeley: University of California Press. [ Links ]
Newbury, C. (2000). Patrons, clients, and empire: The subordination of indigenous hierarchies in Asia and Africa. Journal of World History, 11(2), 227-263. [ Links ]
Newbury, C. (2003). Patrons, clients, and empire: Chieftaincy and over-rule in Asia, Africa, and the Pacific. Oxford: Oxford University Press. [ Links ]
Northrup, D. (2002). Freedom and indentured labor in the French Caribbean, 1848-1900. In D. Eltis (Ed.), Coerced and free migration: Global perspectives (pp. 205-228). Stanford: Stanford University Press. [ Links ]
Phillips, A. (1989). The enigma of colonialism. British policy in West Africa. Londres: James Currey. [ Links ]
Rodney, W. (1972). How Europa underdeveloped Africa. Londres: Bogle-LOuverture. [ Links ]
Spear, T. (2003). Neo-traditionalism and the limits of invention in British colonial Africa. Journal of African History, 44(1), 3-27. [ Links ]
Thornton, J. K. (1998). The Kongolese Saint Anthony. Dona Beatriz Kimpa Vita and the Antonian Movement, 1684-1706. Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]
Vos, J. (2015). Kongo in the age of empire, 1860-1913. The breakdown of a moral order. Madison: University of Wisconsin Press. [ Links ]
Wheeler, D. L., & Pélissier, R. (1971). Angola. Londres: Pall Mall Press. [ Links ]
Willis, J. (1995). Men on the spot, labor, and the colonial state in British East Africa: The Mombasa water supply, 1911-1917. International Journal of African Historical Studies, 28(1), 25-48. [ Links ]
Recebido: 22 de março de 2016
Aceite: 10 de agosto de 2016
NOTAS
[1] Arquivo Histórico Nacional de Angola (AHNA), caixa 3496, Governador do Congo à Secretaria geral, no. 386, Cabinda, 25-7-1898; ibid., Obras Públicas, Relatório, Motivo da decadência da agricultura no enclave de Cabinda, 1910; Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Angola, 1ª Rep., pasta 23, Governador geral ao Ministro das Colónias, no. 1046, Luanda, 24-11-1912.
[2] National Archives (Kew, TNA), FO 367/334, 8547, Drummond-Hay para Grey, Luanda, 28-1-1913.
[3] TNA, FO 881/10217, Memorandum regarding labor conditions in the Spanish and Portuguese West African Dominions [Memorando referente às condições de trabalho nos domínios espanhóis e portugueses na África Ocidental], maio 1913.
[4] AHU, SEMU/MU-DGU/DGC, Angola, maço 1081, doc. 26. Kiditu foi interrogado em agosto de 1914 sobre suas negociações com o governador em Cabinda. Ibid., doc. 145, testemunho no. 6.
[5] AHNA, caixa 3496, doc. 1909, Distrito do Congo, Relação dos residentes, escrivães e delegados, Cabinda, 28-6-1904; AHNA, caixa 3672, Governador a Secretaria geral, no. Extra, Luanda, 23-6-1913; AHU, SEMU/MU-DGU/DGC, Angola, maço 1081, doc. 26.
[6] AHU, SEMU/MU-DGU/DGC, Angola, maço 1081, doc. 75, Jayme de Moraes ao Governador geral.
[7] TNA, FO 367/334, 8547, Drummond-Hay para Thomas, Luanda, 6/12/1912.
[8] TNA, FO 367/334, 8547, Drummond-Hay para Grey, Luanda, 28/1/1913.
[9] AHNA, caixa 3374, Negócios Indígenas, Processo no. 221, Estatística dos trabalhadores da Província do Congo (1913).
[10] AHNA, caixa 3698, Relação do pessoal empregado na limpeza da povoação no mês de março 1912, incluída na Commissão municipal de S. Salvador, ordem de pagamento, no. 67, 1912.
[11] TNA, FO 367/334, 8547, Royle para Drummond-Hay, Cabinda, 12/12/1912.
[12] AHU, SEMU/MU-DGU/DGC, Angola, maço 1081, doc. 29, Governador do distrito ao Governador geral, Cabinda, 5/2/1913.
[13] TNA, FO 367/335, 18278, Thomas para Drummond-Hay, Matadi, 31/12/1912. Também FO 367/334, 8547, Thomas para Smallbones, S. Salvador, 8/9/1912.
[14] AHU, SEMU/MU-DGU/DGC, Angola, maço 1081, doc. 35, Administrador Pinto ao Governador Cardoso, Relatório, S. Salvador, 8/3/1913.
[15] Annual Report of the Baptist Missionary Society (London), 1908-1912.
[16] TNA, FO 367/334, 8547, António Mesakala Makaya para BMS, Cabinda, 27/10/1912.
[17] TNA, FO 367/334, 8547, Carta para Lungezi, Kunku e Mwingu, Cabinda, 27/10/1912.
[18] Royle negou essas acusações. TNA, FO 367/334, 8547, Royle para Drummond-Hay, Cabinda, 12/12/1912.
[19] AHU, SEMU/MU-DGU/DGC, Angola, maço 1081, doc. 35.
[20] TNA, FO 367/335, 18278, Thomas para Drummond-Hay, Matadi, 31-12-1912. Também FO 367/334, 2713, BMS para Grey, Londres, 15/1/1913.
[21] AHU, SEMU/MU-DGU/DGC, Angola, maço 1081, doc. 34, Governador Cardoso ao Governador geral, Cabinda, 24/2/1913.
[22] AHU, Angola, maço 1081, doc. 35.
[23] Arquivo Histórico Militar (AHM), caixa 20, doc. 11, p. 5; Arquivos de Angola 2ª série, 16, no. 63-66 (1959), pp. 9-10.
[24] AHU, SEMU/MU-DGU/DGC, Angola, maço 1081, doc. 37, Norton de Matos, Luanda, 7-4-1913; Boletim Oficial de Angola 51 (1912), circular de 20/12/1912.
[25] AHU, SEMU/MU-DGU/DGC, Angola, maço 1081, doc. 36.
[26] Boletim Oficial de Angola 36 (1913), decreto 1021 de 3-9-1913; TNA, FO 881/10424, Memorando referente às condições de trabalho nos domínios espanhóis e portugueses na África Ocidental, maio de 1914.
[27] TNA, FO 367/337, 57958, Bowskill para Wilson, S. Salvador, 21/10/1913.
[28] Arquivos da Baptist Missionary Society [Sociedade Batista Missionária] (Angus Library, Regents Park College, Oxford, BMS), A/123, Claridge para Wilson, Yakusu, 22/6/1914, p. 6.
[29] AHU, SEMU/MU-DGU/DGC, Angola, maço 1081, doc. 26/12.
[30] Para os acontecimentos descritos neste parágrafo, ver AHU, SEMU/MU-DGU/DGC, Angola, maço 1081, doc. 26/6, 26/7, 26/11, 26/12; Bowskill (1914), pp. 21-27.
[31] AHU, SEMU/MU-DGU/DGC, Angola, maço 1081, doc. 144; Bowskill (1914), p. 28.
[32] As duas transcrições encontram-se no AHU, MU-DGC, Angola, pasta 999. As citações abaixo foram tiradas da versão inglesa, que também foi publicada em Bowskill (1914).
[33] AHU, SEMU/MU-DGU/DGC, Angola, maço 1081, doc. 26/7. Esses homens eram Vatunga e Melandwa, este último um dos filhos de Mfutila, tio de Buta. Ibid., doc. 145, testemunho no. 16.
[34] AHU, SEMU/MU-DGU/DGC, Angola, maço 1081, doc. 26/8.
[35] BMS, A/123, Claridge para Wilson, Yakusu, 22-6-1914, p. 6.
[36] AHU, SEMU/MU-DGU/DGC, Angola, maço 1081, doc. 145, testemunho no. 6.
[37] Ambrósio Augusto Divengele, Trabalhos, in A Maria Immaculada. Homenagem da Missão Portugueza de S. Salvador do Congo. 8 de Dezembro de 1905 (São Salvador: Missão, 1905); AHNA, caixa 3643, Escolas, São Salvador, 1899.
[38] AHU, SEMU/MU-DGU/DGC, Angola, maço 1081, doc. 145, testemunho no. 16.